A memória é uma garantia em pedaços
Godard
Para situar uma possível conversa entre Jacques Lacan e Jean-Luc Godard, poderíamos começar retraçando alguns elementos de contato entre cinema e psicanálise. Por mais distintos e distantes que possam parecer estes dois campos, quando tomamos as características que estruturam as experiências produzidas por seus dispositivos fundantes uma série de aproximações se tornam possíveis.
Falamos aqui de dois dispositivos potencialmente críticos das formas de narrar o mundo, de representá-lo e de tratar com os limites dessa mesma representação. Ainda que suas finalidades possam não ser idênticas, encontramos homologias significativas nos modos de concepção e construção destes: termos como cena, roteiro, perspectiva, enquadre, corte, personagens, ângulos, pontos de vista, etc. fazem parte – à sua maneira – do tratamento da linguagem próprio de ambos1.
Mais ainda: pode-se dizer que não foi por mera coincidência que ambas vieram à luz na virada do século XIX para o XX. Foucault (1966) assinala que durante o século XIX encontramos a emergência de movimentos convergentes com a ruptura com a retórica representacional (entre palavra e coisa), podendo conceber então a linguagem como um sistema autônomo, enquanto condição para a organização da experiência sensível, e que teria particularidades intrínsecas em sua estrutura na produção de sentido – por consequência disso, encontra-se um conjunto de experimentações estéticas e discursivas, de escrita e leitura, que acompanham os avanços tecnológicos da época, e que culminam não apenas na arte cinematográfica, como o sistema semiológico psicanalítico.
Entretanto, como um destino não é determinado pelas origens – ao menos fora dos enredos trágicos – observamos tanto a psicanálise como o cinema, após suas parições, produzirem progressivos engessamentos nos modos de construção de suas narrativas ao longo da primeira metade do século XX: cada vez mais próximas de uma reprodução tecnicista – ditados pelos discursos institucionais dominantes em cada campo – e, consequentemente, cada vez mais distantes da força disruptiva de sua experiência fundadora, assim como das potencialidades transformativas constitutivas de cada dispositivo.
É neste contexto que nos deparamos com um primeiro ponto de contato entre os protagonistas deste ensaio: entre a experiência intelectual de Jacques Lacan – com o sopro de vida que este deu à teoria e prática psicanalítica – e as experiências estético-formais de Jean-Luc Godard – aqui tomado como representante de um movimento maior, a Nouvelle Vague do cinema francês. Falar destes dois personagens é falar de um momento de grande agitação cultural e intelectual que se deu no contexto francês do pós-guerra.
Contemporâneos no auge de suas produções, Lacan e Godard compartilharam dessa Paris dos anos 1950 e 60 na qual pulsava um questionamento sobre cada uma das bases dos saberes canônicos de então – saberes que foram criticados, retraçados, revistos e tensionados a partir de ousados trânsitos transdisciplinares. Celebrado até hoje, talvez tenhamos “presenciado” aí um dos maiores cenários de ampla efervescência intelectual que permitiu atravessar e transgredir os cercos dos sítios de saber. Em outros termos, foi um período em que cada campo lidou com os ecos sobre si de um contato – nem sempre pacífico – com a filosofia, matemática, antropologia, sociologia, linguística, etc.
Neste contexto, a Nouvelle Vague – ou “nova onda” – representou um conjunto de reformulações estéticas apresentadas pela juventude no pós-guerra, movimento vanguardista presente em diversos contextos, mas que ficou mais conhecida pela sua expressão no cinema francês. Neste tivemos, entre o fim dos anos 50 e durante toda a década de 60, a presença de jovens diretores dedicados a uma profunda desconstrução dos padrões estéticos de produção cinematográfica, empreitada levada a cabo a partir de experimentações dos limites técnicos do dispositivo fílmico, além de críticas dos ditames estabelecidos até então. Entre eles, além de Godard, encontramos François Truffaut, Jacques Rivette, Claude Chabrol, Éric Rohmer, assim como Agnès Varda e Jacques Demy. Aqui podemos caminhar ao primeiro take com Lacan.
- A CRÍTICA: um princípio epistêmico
A Nouvelle Vague, além de representar um dos mais importantes movimentos de vanguarda da história do cinema (Xavier, 1983), se diferencia de um “simples ímpeto de ruptura” com a tradição que a precedeu pelo modo como ela procedeu tal quebra. Ela surge de um conjunto de críticas consistentes e detalhadas dos padrões da indústria do fílmica, pesquisas produzidas por jovens entusiastas e estudiosos do cinema. Mais ainda: ela nasce de uma “provocação” publicada na Cahiers du Cinéma, revista especializada que tinha entre seus colaboradores estes que citamos acima (Godard, Rivette, Truffaut, etc.). Antes de se lançarem como diretores, portanto, eram críticos de cinema, dedicados a analisar e pensar sua produção contemporânea. Eis que em dado momento, seu editor André Bazin lança um simples “bem, se tá tão ruim o que vocês têm visto por aí, por que não fazem algo melhor?”, ou em seus termos “os desafio a produzirem o filme que gostariam de ver”2.
Ponto importante nessa conversa é que não temos na ruptura introduzida um discurso da “imanência da experiência” do cinema: não vemos entre estes jovens e suas experimentações “pessoas tão-somente pegando uma câmera e fazendo ‘arte’”. Há o improviso, há a abertura ao imponderável, mas não sem uma sólida base discursiva teórica e conceitual. Em outros termos, não encontramos nenhum tipo de naturalização do dispositivo e suas condições de formação.
Bem, pra bom entendedor meia analogia basta: quando pensamos no valor e impacto da emergência de uma figura como Jacques Lacan na psicanálise, estes não devem ser medidos apenas pela sua atual posição no mundo psicanalítico (dado o sucesso das instituições lacanianas – “sucesso” por vezes bem questionável, convenhamos), mas especialmente pelo modo como este produziu uma inflexão nas bases teóricas que sustentavam a práxis psicanalítica. Lacan recusa, enquanto princípio epistemológico, justamente a ideia de que a “clínica é soberana” ou de que a “prática precede, lógica e epistemologicamente, a teoria”.
É de um trabalho contínuo com os conceitos que uma leitura, compreensão, até significação da experiência clínica poderá se dar. A retórica da imanência de um sentido que se “mostraria” na clínica é a negação de uma condição epistemológica: todo e qualquer fazer clínico depende estruturalmente de um discurso semiológico, de um sistema de referência nocional que tornaria tal vivência legível e transmissível, dentro dos possíveis de se transmitir. A negação tal condição, intencional ou não, leva nosso campo – na melhor das hipóteses – a uma estagnação, quando não a um retrocesso.
A constante explicitação do sistema conceitual que embasa a apropriação de nossa prática é condição para que possamos reconhecer os limites e potencialidades de nosso dispositivo clínico. Reconhecer sua gramática fundamental, portanto, é uma premissa de nosso fazer. Neste sentido, cientes de que os elementos de base não estão “ao pé do ouvido” ou “no encontro dos corpos sebáceos e empáticos de analista e analisando”, uma lição trazida por Lacan foi a de que precisamos nos reapropriar, dentro das possibilidades de cada percurso formativo, de toda a tradição que envolve nosso fazer. Uma tarefa dura, intensa, mesmo longa, uma jornada que de partida toca ao impossível.
Aqui, não raro uma crítica de nossa leitura costuma aparecer “eis uma posição elitista, não são todos os aspirantes a analista que tem tempo, recursos e disposição para tal”. É verdade. Esta crítica responde a uma tensão proveniente da popularização do acesso à formação em psicanálise, difusão que em si é uma grande conquista de nosso campo. Entretanto, creio que apostar em uma condescendência frente à formação psicanalítica – algo como “leia por cima 4 ou 5 textos de Freud e já tá bom” – um tipo de subestimação do horizonte de saber, leva a um outro tipo de elitismo, este sim muito lucrativo aos eternos mestres dos “cursos de psicanálise para iniciantes”. A aposta no horizonte amplo do saber, ainda que em diferentes ritmos e vias, me parece a aposta mais democrática e produtiva à formação de cada analista e à transformação da psicanálise.
Para além deste parêntese não anunciado, acreditamos que praticar a psicanálise é também reinventá-la. A incessante investigação da anatomia do dispositivo psicanalítico, do lado de Lacan, e cinematográfico, do de Godard, é o que podemos testemunhar em suas obras. Os Escritos e Seminários de Lacan, como os filmes de Godard, portanto, nos apresentam suas hipóteses, experimentações, provações, validações e refutações de um constante laboratório.
O avanço no movimento de suas obras, portanto, não é uma mera negação de tudo que veio antes. Não é “sem o passado”, nem a despeito deste. É a partir dele. Retomar, estudar a história da prática, as tensões de seus conceitos, o modo como foram diferentemente assimilados e trabalhados é essencial em ambos os campos. Temos desde os primeiros momentos de Godard, por exemplo, a presença de remissões a gêneros dominantes no cinema, especialmente o americano (thriller policial, film noir, etc.), por vezes em tom de tributo, em outros irônico. Uma ótima metáfora do embate entre o “antigo x moderno” está em uma cena de À bout de souffle (1960) em que o casal de protagonistas Michel Poiccard (interpretado pelo feio charmoso Jean-Paul Belmond) e Patricia Franchini (Jean Seberg) se encontra no pequeno apartamento dela, no qual a jovem anuncia que comprou um pôster de Renoir, Retrato de Irène Cahen d’Anvers, e pergunta em que parede poderia colocá-lo. Vemos na sala um Pablo Picasso e um Paul Klee. Há espaço, mas o amante lhe diz “talvez possa ficar no banheiro”. De uma forma ou de outra, ainda está.
Do mesmo modo que Lacan dedicou uma vida a ler, reler, criticar e revisar seus antecessores e contemporâneos, Godard e seus colegas da Nouvelle Vague não cessam de se remeter aos clássicos para torcê-los e subvertê-los. O novo surge das ruínas do que não se sustenta mais como o “mesmo”.
Eis um ponto em comum da prosa de nossos protagonistas.
- O CORTE: um princípio de método
À bout de souffle (1960) – traduzido por Acossados, ainda que o literal Sem fôlego o expresse melhor – é considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. Ele marca o início da empreitada experimental de Godard e contém em si quase todos os princípios técnicos explorados futuramente pela Nouvelle Vague.
Um dos elementos que faz deste filme tão relevante na história do cinema, é o modo como ele responde em diversos níveis ao manifesto estético-político de François Truffaut Uma certa tendência do cinema francês, de 1954. Neste, o autor defende o chamado cinema de autor (cinema d’auteur). Ele parte de uma crítica ao tão aclamado cinema francês da época, com adaptações de novelas do realismo psicológico, mas cujos modos formulaicos subutilizavam os recursos próprios da narrativa cinematográfica. Os diretores eram secundários na realização das obras, ficando a cargo dos grandes estúdios, com seus editores e roteiristas, seguir uma cartilha de como contar uma história.
A teoria do autor – ou “política dos autores”, como ficou conhecida a proposta de Truffaut – toma como chave a noção de camera-stylo, ou “câmera-caneta”. Ela considera que o diretor deva explorar a gramática do meio cinematográfico, de modo a tirar vantagens deste. Tomar-se como um autor que, para além de traduzir “texto em imagens”, possa investigar, inovar e até brincar nos modos de composição. Neste processo, um recurso central é o da montagem.
Até então, a narrativa cinematográfica seguia a rígida codificação de uma edição voltada para uma história linear, contínua e expositiva. Todo o trabalho do editor era o de manter de forma sutil uma certa continuidade de espaço e tempo, para que os cortes não saltassem à atenção do espectador e poluíssem o story telling. Eis um ponto central à crítica da Nouvelle Vague.
Criticar os modos de representar, conceber e contar uma história a partir do dispositivo cinematográfico é reconhecer suas fraturas fundantes: “um filme é um fragmento, mesmo nos clássicos. Filmes são conjuntos de pedaços, mas tudo que se vive são peças do mundo. Por que evitar?” (Godard, 1965). Como se pode ver, a resposta do diretor à ilusão da continuidade na representação é a de explicitar a descontinuidade, mas esta não é uma posição unívoca no movimento: Bazin (1958), por exemplo, aposta na extrema continuidade, como planos-sequência que dariam um espaço de liberdade para o olhar do espectador se direcionar para onde quisessem.
A trilha de Godard, como vemos, é diametralmente oposta: os cortes abruptos e constantes (jump cuts) se tornaram uma marca de seu estilo. O jump cut estreia no cinema como instrumento de insurgência estética. Este recurso – tão comum nas edições atuais – intensifica os cortes, salientando sua presença na formação daquela narrativa, e trazendo ao espectador a dimensão da descontinuidade estruturante em jogo ali.
Ao nível narrativo, o jump cut pode tanto trazer aproximar duas cenas distantes, temporal ou especialmente, fazendo um salto abrupto de uma a outra; como pode, por outro lado, afastar a continuidade entre duas cenas próximas, introduzindo cortes onde usualmente haveria apenas um fluxo uniforme e contínuo. Sobre esta segunda, um ótimo exemplo é a clássica cena de Jean Seberg em um passeio de carro em À bout de souffle, no qual temos para um curto e pontual espaço-tempo uma série de pequenas rupturas na qual a edição “se dá a ver”.
Entretanto, a força deste recurso está no que poderíamos chamar de seu impacto estético-subjetivo na experiência do cinema: ele introduz o espectador em uma narrativa que se recusa à ilusão de uma “pretensa realidade”. Os meios pelos quais a máquina cinematográfica opera se mostram à audiência. Muito mais que acompanhar um “drama escrito em imagens”, o espectador é lembrado de que está diante de um filme, feito por um diretor, roteirista, montador, etc. O desmentido da representação ganha novos contornos aqui.
No fundo, e eis um ponto crucial, o que está em jogo para a Nouvelle Vague é o reconhecimento de que o dispositivo do cinema não seria nem uma máquina para uma “representação fiel” da realidade (o que quer que isso seja); muito menos, inversamente, fruto de projeção das “disposições mentais” do espectador (Munsterberg, 1916 Apud Xavier, 1983) – ou mais abstratamente, do “entendimento humano”. O que temos é a compreensão do cinema como um novo meio, com uma série de recursos que introduzem no narrar elementos inéditos, ao ponto de produzir efeitos sobre os sujeitos. Em última instância, o que Godard e seus colegas enfatizam é que o dispositivo cinema produz efeitos subjetivos próprios, que aqui poderíamos chamar sinteticamente de efeito-sujeito.
Mais que mero recurso cosmético, ao interromper o fluxo contínuo de imagens, revelando procedimentos de montagem e chamando atenção pra forma fílmica, o realizador provoca o espectador a refletir sobre as formas de construção da narrativa (2020). É neste sentido que o procedimento de Godard ganha o título de “brutal”, por romper com a tranquilidade e harmonia dos padrões narrativos.
Os recursos de edição e filmagem: como o jump cut, a câmera em movimento, a voz em off (voice over), o plano fechado (close up), etc., reorganizam o espaço e o tempo do discurso fílmico e produzem como um dos efeitos aquilo que Godard chamou de “teste de audiência”, deixando para que este reconheça a incompletude da representação e à sua maneira preencha a cena, incluindo algo de si, além de trazer consigo o questionamento de toda a engrenagem que levou a tal resultado – indagação que pode ser sintetizada em um “o que quis o diretor aí?”, , um “Che vuoi? cinematográfico”, por certo. O que Godard introduz no cerne do cinema é o intervalo, a hiância.
Bem, como sabemos, é central o lugar do corte no dispositivo clínico lacaniano. Para além de suas materializações no tempo da sessão – cujas críticas sobre serem curtas ou curtíssimas, por vezes são pertinentes – estamos diante dos efeitos de uma teoria do sujeito em sua relação com a linguagem (ponto de distinção de Lacan na via estruturalista), assim como sua temporalidade intrínseca.
Herança da dialética hegeliana, a crítica de Lacan à espacialização do tempo, à compulsória tentativa de uniformização e estabilização da experiência – no caso, a analítica – produz ecos sobre todo o sistema conceitual lacaniano. Pode-se dizer, ainda assim, que a dimensão da consistência da experiência aparece em diversas roupagens na conceptualização crítica do registro imaginário em suas relações complexas com a consciência, o eu e suas alienações fundantes: “a única função homogênea da consciência está na captura imaginária do eu por seu reflexo especular e na função de desconhecimento que lhe permanece ligada” (Lacan, 1964). Introduzir a descontinuidade, por sua vez, é abrir espaço para aquilo que excede o eu e suas amarras narcísicas enquanto referência primeira da experiência. Eis onde encontramos um passo para sua inscrição técnica.
Ponto comum entre Lacan e Godard, portanto, é o entendimento de que levar as experiências propiciadas por seus respectivos dispositivos radicalmente à sua potencialidade última é reconhecer que não há separação entre forma e conteúdo. É preciso tomá-las em seu cerne como uma só e mesma coisa. Não há trabalho sobre o conteúdo que não passe por um trabalho sobre a forma.
O corte para Lacan é homólogo à lógica do simbólico, uma vez que temos aí a presença de uma dimensão da experiência ausente de uma apreensão ou captura imediata. É preciso considerar globalmente um contexto para que se possa ler o campo de determinação simbólico instaurado por esta via que está além das crenças e “vistas” (imaginário).
Mais ainda: o corte, no campo da linguagem, é homólogo à barra entre significante e significado (Lacan, 1960). Não há significante que encerre em si a produção de um significado unívoco. Reconhecer tal lacuna é reconhecer que a cadeia significante precede e determina em suas relações diferenciais e de covariância a produção a posteriori de significações – produções meio mambembes, ainda que seja o pouco que temos pra ancorar nosso dia a dia. E é nesta lacuna que se insere o sujeito para Lacan, o sujeito do inconsciente enquanto instância intervalar que excede às noções de indivíduo, pessoa e mesmo de eu. Eis onde o corte se inscreve, nos termos de Lacan: “o corte da cadeia significante é único para verificar a estrutura do sujeito como descontinuidade” (Idem) ou ainda “o sujeito se acha ele próprio situado como corte no significante, enquanto ele é estruturado pelo corte” (Lacan, 1958-59). A ideia de base está, portanto, na noção de que a estrutura da sessão analítica orbita no entorno dos “tropeços e interrupções” (Lacan, 1960), cujos cortes que explicitam o lugar descontínuo de determinação do significante, e instauram uma dimensão além do blábláblá cotidiano daquele que fala.
Lacan entre as lentes de Godard é tomado como um cúmplice na produção de uma experiência que reconhece que o corte é abertura ao novo em um discurso, ao reconhecimento de suas fissuras internas, sua estrutura simbólica de base: “o corte é sem dúvida o modo mais eficaz da intervenção e interpretação psicanalítica, da hiância sobre este algo de radicalmente novo que introduz todo o corte da fala” (Lacan, 1958-59). Para estes, tanto um analista como um cineasta são artífices da arte do corte – e por vezes da costura – manejam a arte de onde e como introduzir uma descontinuidade que produza efeitos transformativos.
Este ponto nos leva ao terceiro e último encontro entre os dois autores.
- A LINGUAGEM: um princípio de matéria
Como dissemos, um dos eixos para a reformulação do fazer cinematográfico levado a cabo pela Nouvelle Vague, foi o da recusa à subordinação da matéria do filme à letra do roteiro. Ou seja, reconhecer que um filme pode ser mais que uma mera ilustração literária. Os inúmeros recursos de produção do dispositivo audiovisual do cinema levam seus realizadores à tarefa contínua de explorar os limites da gramática organizadora deste meio. A pergunta de fundo é: o que seria próprio do tratamento conjunto de imagem, som e palavras, que o diferencia dos ofícios em que estes são o centro exclusivo/norteador?
No caso de Godard há uma particularidade na resposta a esta questão, pois se por um lado acompanha a crítica à adaptação literária do cinema, por outro, ele não deixa de proceder uma série de experimentações com a palavra, em seus múltiplos modos de expressão. Godard transita “entre”, habita os interstícios e fronteiras da linguagem cinematográfica com outras modulações de linguagem, em especial no que ambas tocam à poética. Este bordear de Godard é o que justifica Tarantino colocá-lo ao lado de Bob Dylan: dois mestres no fazer poético por entre mesclas semióticas.
Ainda que possamos falar de uma distância tomada do fazer cinema com o escrito do roteiro, vale ressaltar que a crítica da Nouvelle Vague encontra eco também em movimentos literários do meio do século XX, tendo, por exemplo, James Joyce, Arthur Rimbaud, Paul Valéry, T. S. Eliot e Marguerite Duras como grandes inspirações, além da presença nos famosos cineclubes vanguardistas de Jean Cocteau e Roger Leenhardt, por exemplo.
A experimentação da língua e das margens da linguagem por Godard, faz com que seus filmes possam ser tomados como grandes tratados sobre a Linguagem, com L maiúsculo. A presença de escritores e literatos em seus filmes engrossam o caldo dessa leitura e acabam por dar até mesmo um tom argumentativo em suas histórias.
Desde a intensa entrevista que encontramos em À bout de souffle (1960), às aulas de literatura em Band à part (1964), até Pierrot Le fou (1965) com um protagonista que flerta com se tornar escritor e nos recita inúmeras de suas leituras. Mas em Vivre sa vie (1962), temos um robusto diálogo entre a jovem protagonista Nana (Anna Karina) e um boêmio erudito encontrado ao acaso, sobre o estatuto da palavra e do falar. Desde o princípio da trama, somos apresentados a uma personagem que tropeça na tentativa de bem-dizer, repete frases ensaiando mudar o sentido pela entonação, luta por encontrar as palavras exatas, chegando até a se silenciar, pois “quando mais se fala, menos as palavras significam” (Godard, 1962). É na conversa com o filósofo casual que encontramos:
Para falar bem é preciso abrir mão da vida por um tempo, é o preço. Falar quase é uma ressurreição frente a vida, uma outra vida emerge do que quando não falamos. Para viver falando é preciso passar pela morte da vida sem falar. É preciso olhar a vida com desapego. O balanço entre o silencio e a fala é o movimento da vida. O que está em jogo é a morte da vida cotidiana. (Idem)
De alguma forma, podemos dizer que acompanhamos esse processo de morte e ressurreição, enquanto contínuo de criação, ao longo dos filmes de Godard. Seus roteiros, ele se gabava em entrevistas, eram reduzidos a pequenas cadernetas (Godard, 1980). Havia espaço aberto ao “encontro” nas filmagens: encontro com palavras surgidas na hora para o diretor, encontro com palavras novas dos atores, encontro com o que quer que viesse do entorno. O roteiro, portanto, não é encenado pois ele simplesmente não existe a priori. Ele acontece. Ele vai se tornando no processo.
Assim como é atravessado pelos eventos externos. Uma das maiores influências da Nouvelle Vague foi o movimento do neorrealismo italiano (Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti) e sua perspectiva de mostrar a realidade cotidiana do entorno, valendo-se até de atores amiúde não profissionais. Nesta via, as cidades – com seus cafés, transportes, paisagens e fluxos de toda ordem – são um personagem seminal dos filmes. Godard explora aí meios de esfumaçar limites entre a realidade social e a representação artística.
Em outras palavras e de forma sintética, podemos dizer que o que está em jogo é o reconhecimento de que não há metalinguagem possível aí. Ou seja, na montagem da cena cinematográfica, como na da analítica, não há uma linguagem última a apreender mais e melhor outra dimensão linguageira. Fazer cinema não é elevar o modo de expressão da literatura, fotografia ou qualquer outra arte: fazer cinema é estar diante de uma linguagem própria, com potencialidades e limitações. Estamos no mesmo terreno arado pela clínica lacaniana: impossível ao discurso chegar à palavra última, derradeira – vale para aquele que associa livremente, vale para aquele que interpreta. Fazer análise não é – eis um ponto de distinção desta vertente psicanalítica frente a outras – lapidar o discurso presentificado em sessão com “conteúdos psicanalíticos”, muito menos transformar seu drama individual em uma metanarrativa teórica, ou pior, em um palavrório psicologizante. Um percurso analítico implica se deparar nos interstícios de sua fala, de sua história, os veios silenciosos que levaram uma vida a se constituir como tal. A verdade que brota desta jornada está radicalmente apartada de apreensão absoluta de um saber, qualquer que seja esse saber.
A fotografia é a verdade. E o cinema é a verdade 24 vezes por segundo. (Godard, 1963)
Este “aforismo”, por vezes é tomado como um atestado da superioridade do cinema frente à fotografia. Um estado da verdade “mais intensa”. Entretanto, Godard, em consonância com Lacan, é claro no reconhecimento de que a verdade é fraturada em seu cerne, de que temos apenas notícias aproximadas dela, de que a imagem (seja uma, seja 24 vezes por segundo) apenas revela a cegueira inerente do humano, cegueira, como colocada em Adieu au Langage (2014), produzida pela “consciência que o impede de ver o mundo”. Ver, ouvir, falar não possuem unidade, como bem lembra em Pierrot le fou (1965). Mas é justamente na possibilidade de tensioná-las, enquanto elementos díspares, que Godard trabalha o limite das gramáticas de cada um, os confins da linguagem.
E é neste ponto que podemos dizer que ele toca o poético homólogo à sua dimensão em uma análise: poético enquanto potência intensiva de desconstrução e reconstrução dos modos de ver, ouvir e falar o mundo.
Lacan e Godard: dois provocadores, por sorte.
Bibliografia
Bazin, A. O que é o cinema? São Paulo: Ubu editora, 1958 (2021).
Bordwell, D.; Thompson, K. Film history: an introduction, Nova York: Mcgraw-Hill, 1994.
Godard, J.-L.., À bout de souffle, filme, 1960.
_____ Vivre sa vie, filme, 1962.
_____ Le petit soldat, filme, 1963.
_____ Band à part, filme, 1964.
_____ Pierrot le fou, filme, 1965.
_____ (1965). Jean-Luc Godard interview to ‘Tempo’.
_____ (1980) The Dick Cavett Show: Jean-Luc Godard.
_____ Adieu au Langage, filme, 2014.
Foucault, M. As palavras e as coisas, São Paulo: Martins fontes, 1966.
Lacan, J. O Seminário – Livro VI: O desejo e sua interpretação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. [1958-59] 2016.
_____(1960) Subversão do sujeito e dialética do desejo, In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1998.
_____ (1964 [1960]) A posição do inconsciente, In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1998.
Truffaut, F. (1954). Uma certa tendência do cinema francês. In: Cahiers du Cinéma.
Xavier, I. (org.). A experiência do cinema. Rio de Janeiro: Graal, 1983
João Felipe Domiciano. Psicanalista. Pesquisador. Diretor da APOLa São Paulo. Doutor e mestre em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo, com estágio de pesquisa na Université Paris VII – Diderot. Editor da revista O rei está nu. Autor de “A anatomia torcida dos mitos: perspectivas da antropologia estrutural à clínica psicanalítica” (2021). Coordenador do curso “Lacan e seus Outros” (Espaço Assemblage) sobre as fronteiras do pensamento de Lacan com demais linhas psicanalíticas. Atualmente se dedica a pesquisa das intersecções da psicanálise francesa com a literatura, matemática e antropologia.e-mail: domicianojoaofelipe@gmail.com | instagram: @joaofelipedomiciano
- A brevidade deste ensaio nem de perto cobre as extensas e intensas relações entre cinema e psicanálise. Para tal, recomendo os belos trabalhos dos colegas Paula Jacob, Francisco Capoulade, Diego Penha e Christian Dunker. Este último com o qual organizamos algumas edições das Jornadas de Cinema e Psicanálise na Usp no meio dos anos 2000 e cujos frutos estão na coletânea Cinema e Psicanálise (nVersos). ↩︎
- Certamente encontramos condições materiais – como avanços tecnológicos que permitiram a mobilidade das câmeras, e.g. – além de políticas estatais – como o fomento de cineclubes no pós-guerra, além de incentivo de produtos culturais franceses – que servem de pano de fundo para a viabilidade de tal movimento, mas um ponto que excede a brevidade deste ensaio (Bordwell e Thompson, 1994). ↩︎
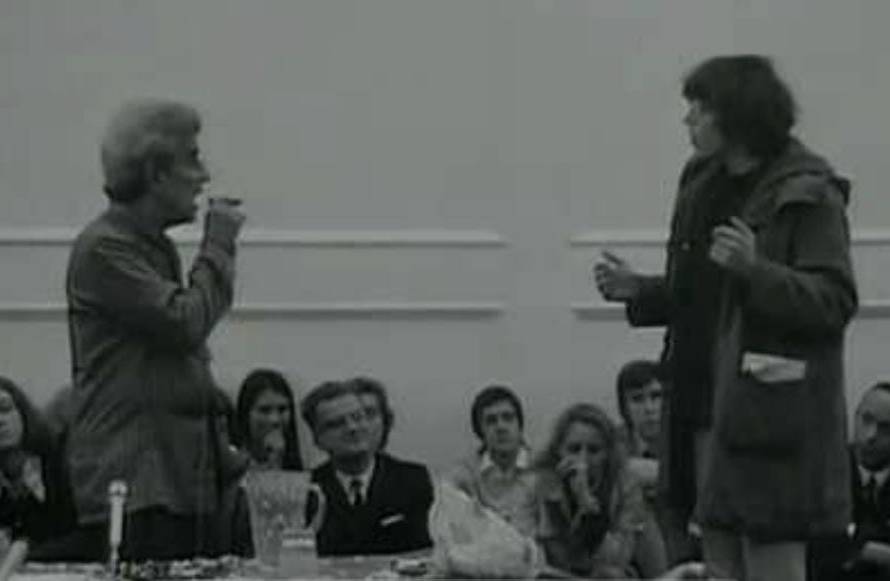


2 Comments
Gabrielle Bley Volpe
Bela tessitura João. Sempre bom ler teu texto. Ressoa por aqui.
sprunki game
Dice games and music mods both thrive on creativity and randomness-something Sprunki Incredibox taps into perfectly with its fresh beats and visuals. It’s a fun twist on a classic concept!