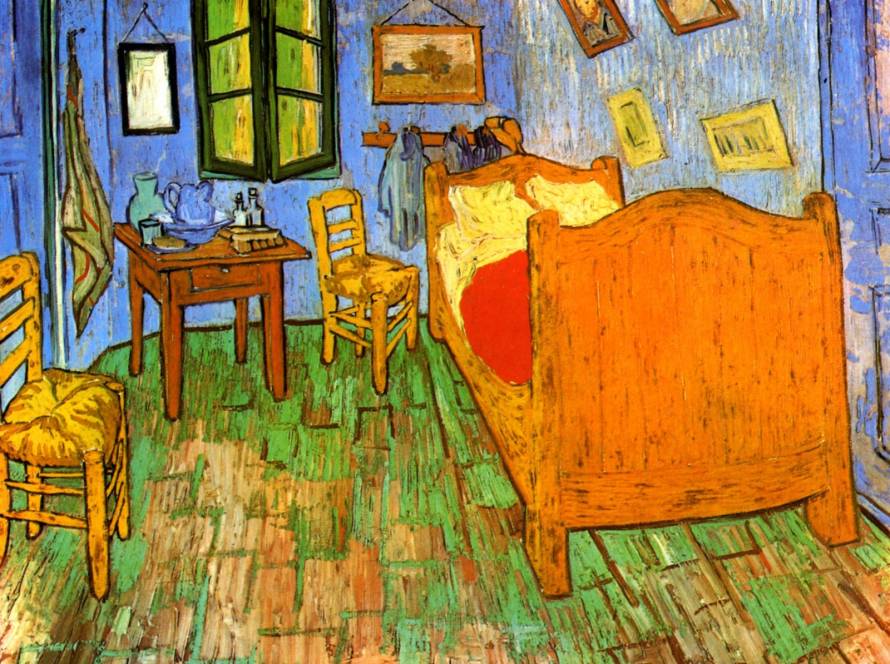No campo da psicanálise contemporânea, a tese de livre-docência de Miriam Debieux Rosa nos oferece uma leitura rigorosa e implicada com a prática clínica e o conceito de psicanálise implicada, intitulada por Psicanálise, política e cultura: a clínica em face da dimensão sócio-política do sofrimento, a obra consolida décadas de pesquisa, escuta clínica e intervenção em contextos marcados por violência, exclusão e precariedade. Ao articular psicanálise, política e cultura, a pesquisadora propõe um reposicionamento da clínica frente aos desafios do nosso tempo: a escuta do sofrimento humano em sua dimensão sócio-histórica e discursiva.
Buscamos nesse texto escrito ao Cosmopolita apresentar alguns dos pensamentos e reflexões apresentados pela autora, compreendemos que não foi possível destrinchar todos os conceitos apresentados na obra, o que produz um convite à leitura de sua livre-docência, um terreno fértil para psicanalistas que se interessem por estudos do tempo histórico vigente e as contradições que o compõe.
O eixo condutor da pesquisa se desenvolve a pensar a prática psicanalítica fora dos enquadres tradicionais, especialmente no atendimento a populações socialmente vulneráveis — migrantes forçados, refugiados, adolescentes em conflito com a lei. Tais contextos exigem, segundo a pesquisadora, um deslocamento epistemológico que permita a(ao) psicanalista escutar a articulação entre o enlaçamento social e o sujeito e, assim, construir um novo modo da psicanálise se posicionar enquanto prática, em uma perspectiva em que a psicanálise desloca seus aspectos epistemológicos para pensar uma clínica que se dá no extra muros do consultório particular.
Um dos conceitos importantes nessa obra é como estudos psicanalíticos podem compor com seus saberes, métodos e metapsicologia no entroncamento com outras áreas do conhecimento como a história, a ciência política e a sociologia. É um trabalho que tem a potência de movimento entre-lugar — um entre-dois (grifo nosso) — abrindo a possibilidade da intersecção do pensamento e da experiência.
Ao desenvolver a noção de psicanálise implicada, a autora parte da recusa em tratar a clínica como um espaço isolado das forças históricas, políticas e sociais que moldam a subjetividade. Ao contrário, ela propõe uma psicanálise que se reconhece implicada (grifo nosso)— isto é, atravessada e engajada — nas condições concretas que produzem o sofrimento humano. Essa perspectiva sustenta que o desejo e o gozo do sujeito não se formam apenas no campo intrapsíquico, mas “são capturados e enredados na máquina do poder”1 e que o discurso social, muitas vezes “travestido de discurso do Outro”2, tenta impor sua verdade e suspender o lugar discursivo do sujeito.
Assim, a psicanálise implicada busca escutar não apenas o sintoma individual, mas também a trama de violências, exclusões e silenciamentos que o constituem, questionando as estratégias discursivas que transformam desigualdades em destinos subjetivos. Essa escuta suscita reconhecer que a constituição do sujeito está indissociavelmente ligada às condições históricas e políticas, e que o inconsciente, como disse Lacan: “Eu não digo mesmo ‘a política é o inconsciente’, mas simplesmente ‘o inconsciente é a política!’”3.
Nessa perspectiva, a prática psicanalítica deixa de ser um exercício neutro ou despolitizado e se torna um ato ético e político. A psicanálise implicada atua como resistência aos discursos hegemônicos, intervindo para além dos enquadres tradicionais no intuito de restituir ao sujeito um campo simbólico no qual ela(ele/o) possa reinscrever seu desejo e elaborar suas experiências traumáticas. A noção de psicanálise implicada não pretende substituir a sociologia ou a ciência política, mas “incidir sobre o que escapa a essas análises: a dimensão inconsciente presente nas práticas sociais”4. Ao fazê-lo, torna-se capaz de desvelar as formas pelas quais o poder estrutura as relações sociais e subjetivas, permitindo que o sujeito se separe das armadilhas do discurso dominante e assuma uma posição desejante. Assim, a psicanálise implicada é, ao mesmo tempo, uma proposta metodológica e uma posição ética: ela convida o psicanalista a reconhecer sua própria posição na estrutura social e a se engajar em uma clínica que transforme o sofrimento em palavra, historicidade e possibilidade de ação.
Para o desenvolvimento de seus argumentos, Rosa (2015) articula o conceito de transferência enquanto ferramenta e método não restritos apenas à situação de análise, destacando o fato que “o inconsciente está presente como determinante das mais variadas manifestações humanas, culturais e sociais”5. Retornando a textos de Freud como a Psicopatologia da vida cotidiana6 mostrando as manifestações do inconsciente presentes nos acontecimentos da vida diária, seja nos esquecimentos, chistes, lapsos, atos falhos – isto é, nos acontecimentos da vida comum – a autora propõe uma reposição teórica, analítica e clínica à medida que o efeito da transferência se dá em ato, ele permite sua aproximação por diferentes campos: “a observação dos fenômenos está em interação com a teoria, produzindo o objeto da pesquisa, não dado a priori, mas produzido na e pela transferência”7 .
Assim, a escuta psicanalítica está intrinsecamente ligada à transferência — processo que envolve tanto o sujeito quanto o analista. Seu ponto de partida é a criação de um campo transferencial, espaço simbólico que possibilita a emergência da palavra e da memória.
Articulando as contribuições de Laplanche e Pontalis, a autora argumenta sobre a legitimidade da prática extensiva da interpretação onde essa “pode estender-se às produções humanas para as quais não dispõe de associações livres”8 utilizados de práticas de pesquisas mais usualmente usadas no campo de saber sociológico e histórico. Em outras palavras, isso implica reconhecer que o trabalho psicanalítico pode ser realizado a partir de narrativas, entrevistas e depoimentos coletados conforme o foco temático do pesquisador, que, a partir desse material, reconstrói e reelabora sua questão de investigação.
Em seguida, problematiza-se a crítica frequentemente dirigida a esse tipo de pesquisa — a de que ela não geraria efeitos no sujeito. É preciso, porém, lembrar que, na psicanálise, pesquisa e intervenção não ocupam campos separados. Quando se trata de estudos que envolvem tratamento psicanalítico, essa aproximação se torna ainda mais evidente: a pesquisa é, de certo modo, a escrita do próprio processo clínico, incluindo o lugar do pesquisador nesse percurso. Ao abordar fenômenos sociais como a imigração forçada ou a delinquência juvenil, a metodologia deve necessariamente considerar o laço do sujeito com a realidade e a forma como esse vínculo pode produzir alienações ou impasses. Nesses casos, torna-se fundamental refletir sobre a condução das entrevistas e sobre a análise dos discursos que emergem delas e, os processos transferências envolvidos nestas conduções.
Nas palavras da autora “As entrevistas ou situações que o psicanalista vai encontrar supõem que escute desse lugar que rompe as barreiras de um sujeito reduzido a predicados, sujeito psicológico ou sociológico, para resgatar a experiência compartilhada com o outro, escuta como testemunho e resgate da memória, o que supõe as associações ou a construção ficcional, outra ferramenta do tratamento psicanalítico.”9 (grifos nossos)
No que se refere à análise dos modos de constituição do sujeito em relação aos laços sociais, alguns dispositivos teóricos se mostram particularmente fecundos: a leitura dos enunciados e da enunciação presentes na cena social em torno de elementos fundamentais da organização psíquica e social; a investigação do imaginário dos grupos, que atribui posições específicas aos sujeitos; a crítica às ilusões contemporâneas vinculadas ao contexto neoliberal; e a atenção ao não-dito dos discursos, bem como ao poder determinante que esses silenciamentos exercem.
Para além desses instrumentos, há também caminhos que promovem deslocamentos importantes fora do campo estritamente analítico. Lacan, por exemplo, oferece indicações sobre como apreender e trabalhar o não-dito, lembrando que “a verdade pode ser reencontrada: frequentemente já está escrita em outra parte”10. Essa verdade se manifesta através do corpo de um sujeito enquanto monumento, nos documentos de arquivos que compõem as recordações da infância, na evolução semântica do vocabulário que nos é familiar, nas tradições que veiculam a história de um sujeito, assim como nos rastros, rascunhos e rabiscos de uma narrativa que guardam distorções (grifos nossos)11.
A partir das ideias de Philippe Julien12, a autora observa que “quando falta a transmissão privada, esta pode instaurar-se no público”13 — assim o resgate e pesquisa histórica podem ter efeitos subjetivos importantes ao favorecer a circulação da memória, legitimando a transmissão. Nessa mesma direção, Contardo Calligaris propõe dois caminhos: um ligado à produção de um discurso político voltado à constituição de uma sociedade civil que favoreça formas de convivência não paranoicas nem narcísicas; e outro, mais próximo da prática psicanalítica, que “consiste em levantar o recalque: lembrar a parte de História e Discurso que nós recalcamos, dizê-la – na vida cultural ou deitados no divã.”14 .
Há um processo de compreender que o sofrimento não é apenas individual, mas tem efeitos que são “administrados politicamente com incidência sobre o narcisismo, as identificações, o luto e os afetos tais como o amor, o ódio, a ignorância e a culpa.”15 e, tal processo nos faz indagar sobre o modo como pode a psicanálise estar em relação à uma análise sócio-histórica, política e culturalmente datada.
A obra parte da constatação de que os laços sociais são constitutivos da subjetividade. Eles não apenas moldam a entrada do sujeito na linguagem e na cultura, mas também organizam o campo relacional, afetivo, libidinal e político em que a vida se desenrola. Ao mesmo tempo, tais laços estão impregnados por discursos hegemônicos que naturalizam desigualdades e mascaram os embates políticos e sociais. Rosa (2015) observa que “os discursos que circulam num dado tempo indicam os modos de pertencimento possíveis para cada sujeito, atribuindo a cada um valores, lugares e posições no laço” (p. 6). Essa dinâmica produz o que ela chama de “desamparo discursivo” — uma forma de silenciamento estrutural que lança determinados sujeitos à margem da linguagem e da história. Nesse sentido, as cenas traumáticas não podem ser compreendidas apenas como experiências internas do sujeito: nelas se condensam as estratégias do poder, as formas de gozo e as determinações culturais que configuram o desejo e a verdade de cada um.
Ao que se refere à temática do desamparo social e discursivo, tal desamparo pode ser percebido a partir do que não é elaborado, compreendido a partir do conceito de não-dito. A partir de sua experiência com crianças e adolescentes, a autora mostra que muitos sintomas infantis não emergem do inconsciente individual, mas retornam como efeitos dos “não-ditos dos pais”, atravessando gerações e inscrevendo-se na vida psíquica dos filhos. “O não-dito dos pais retorna nas fantasias repetidas e/ou nos atos da criança. Ou, melhor dito, repetir é pôr em ato o mal dito familiar”16 . Tal transmissão, que ultrapassa a palavra e opera no registro do significante, evidencia como a constituição do sujeito é atravessada por discursos familiares e sociais que, ao serem silenciados, retornam sob a forma de repetição, inibição ou ato.
Essa reflexão abre caminho para a noção de “clínica do traumático”, que se diferencia da clínica do sintoma ao situar a intervenção psicanalítica no ponto em que o discurso social se traveste de discurso do Outro. Em contextos marcados por violência, exclusão e poder, o sujeito pode ter seu lugar discursivo suspenso, perdendo a possibilidade de articular seu desejo. A clínica, nesse caso, deve operar para restituir “um campo mínimo de significantes referidos ao campo do Outro”17 e criar condições para que o sujeito retome sua posição desejante.
Em um dos capítulos da pesquisa, a autora amplia a discussão sobre o impacto da pobreza, da exclusão e da violência institucional na subjetividade. Ao relatar suas experiências com adolescentes internados na antiga Febem e com famílias em situação de extrema miséria, Rosa (2015) observa que o desamparo não é apenas material, mas discursivo: esses sujeitos são privados dos recursos simbólicos necessários para elaborar o trauma e inscrever-se no laço social. A exposição ao traumático é dupla — tanto pela violência cotidiana quanto pela ausência de um discurso que a simbolize. Nesse cenário, a escuta psicanalítica se depara com sua própria resistência:
A escuta do discurso desses sujeitos fica insuportável, não só pela situação em si ou pelos atos que cometeram, mas porque tomar esse outro como um sujeito do desejo, atravessado pelo inconsciente e confrontado com situações de extremo desamparo, dor e humilhação, situações geradas pela ordem social da qual o psicanalista usufrui — é levantar o recalque que promove a distância social e permite-nos conviver, alegres, surdos, indiferentes ou paranóicos, com o outro miserável. Nestas situações, a escuta supõe romper com o pacto de silêncio do grupo social a que pertencemos e do qual usufruímos; usufruto que supõe a inocência, a ignorância sobre as determinações da miséria do outro e a reflexão sobre a igualdade entre os homens, quando, de fato, o que fazemos é excluí-los. Excluí-los e usufruir do gozo da posição imaginária de estar do lado do bem, da lei18.
Assim a autora expõe a resistência de classe que atravessa a escuta clínica e compromete a ética da psicanálise. Escutar o sujeito do desejo implica romper com o pacto de silêncio do grupo social e reconhecer o lugar que o analista ocupa na estrutura de poder. Essa perspectiva ético-política redefine o papel do psicanalista: não se trata apenas de interpretar o inconsciente, mas de “romper com o discurso violento que se apresenta como simbólico”19 e possibilitar que o sujeito se separe das armadilhas do poder.
A escuta dos significantes advindos e articulados à experiência constitui pressuposto ético que diz respeito ao domínio da política, na medida em que elucida a posição no laço com os outros, e ao domínio da cultura, na medida em que remete à relação ao Outro. A direção possível de dar tratamento ao gozo e ao desejo, sua ética e política, se baseiam em três aspectos concomitantes: restituir um campo mínimo de significantes referidos ao campo do Outro; romper com o discurso violento que se apresenta como simbólico e marcar a supressão de qualquer participação nesse gozo; promover um giro discursivo que restitui o sujeito no laço social e no modo com que este o constrange e aliena, assim como incidir no discurso resgatando um lugar para o sujeito20.
As dimensões de rotação propostas por Rosa (2015), nos permitem ter em perspectiva outra relação com aqueles(as) que escutamos. Não sendo possível neste texto, mas enquanto parte chave para o desenvolvimento das ideias pensarmos sobre como é estar ante ao desamparo das pessoas que escutamos em contextos em que a exceção se faz regra, a partir do traumático socialmente enodado, e perceber ali também o desenvolvimento na escuta de conceito importante21 a Sándor Ferenczi (1873-1933) no que se refere a potência maligna do traumático e as resistencias dos(as) analistas ante as desigualdades sociais, a barbárie e o terror dos tempos de guerra sejam estas nomeadas como a atual violência que está dizimando todo o povo palestino em Israel22 ou sem nome, “igualmente nomeadas, traçadas contra os ditos estranhos e estrangeiros, seja pela nacionalidade, religião, cultura ou classe social”23 (grifo nosso).
Nas palavras de Rosa (2015), as guerras com ou sem nome:
Trava-se outra guerra entre a resistência do sujeito e a insistência do trauma em enlouquecer o sujeito. É um impasse que implica não a responsabilização do sujeito, mas o rompimento com esse campo simbólico; não o assentimento subjetivo de sua participação, mas a supressão de qualquer participação nesse gozo.24
A obra culmina com uma discussão densa sobre vitimização, implicação e responsabilização. A pesquisadora questiona a tendência contemporânea de reduzir sujeitos em situação de violência à condição de vítimas passivas, o que os priva da possibilidade de se reconhecerem como agentes de desejo. Ao mesmo tempo, critica as abordagens que individualizam a culpa e ignoram as determinações sociais do ato. A psicanálise, argumenta, deve articular “responsabilidade e assentimento subjetivo”25, promovendo a passagem da posição de vítima à de sujeito implicado em sua história. Essa reflexão se estende ao campo jurídico e à justiça restaurativa, mostrando como a escuta psicanalítica pode contribuir para repensar as formas de responsabilização no sistema penal.
Ao longo de toda a obra, Rosa (2015) articula com maestria a teoria psicanalítica com as contribuições de pensadores como Freud, Lacan, Arendt, Benjamin, Agamben, Zizek e Foucault. A presença desses autores não é meramente ilustrativa: suas ideias são incorporadas à argumentação para construir uma concepção de política como campo de ação e experiência compartilhada, em que a pluralidade e o conflito são constitutivos da vida social. A autora compartilha com Arendt a visão de que a política nasce da relação com o outro e, também a partir da tese benjaminiana, através da leitura de Agamben, de que o paradigma vigente na política moderna é o estado de exceção. A teoria fornecida por estas(es) autoras(es) permite o desenvolvimento de uma psicanálise em perspectiva:
Destacamos a figura do “muçulmano” — nome que designava os mortos-vivos nos campos de concentração —, do toxicômano, do adolescente intratável42, do imigrante errante, todos transformados em ícones de perigo e foco de hostilidade, assim como figuras necessárias para despertar horror e como exemplos às avessas de como melhor controlar possíveis processos de resistência à modalização da vida. Certamente, não se trata de se conduzir uma análise comparativa dessas figuras, muito menos das narrativas dos sujeitos, e nem mesmo de contestar a especificidade da Shoá ou de cada um destes processos. Estamos aqui nos apoiando na tese de Agamben — tese benjaminiana — , segundo a qual o campo, o estado de exceção que o estabelece, é o paradigma vigente na política moderna. Ou seja, colocando de um modo bem sucinto, a estrutura discursiva que organiza o poder e a ficção jurídica, sustentáculos do estado moderno, é aquela que deu as condições para que os campos de concentração existissem. Por essa razão, há diferentes experiências políticas modernas e contemporâneas que, sem desmerecer o valor de suas especificidades, são expressões da mesma estrutura biopolítica (para usar a palavra cara a Foucault, também retomada por Agamben).
Visamos desmistificar a eficácia desse discurso demonstrando o modo como opera nos sujeitos, a redução e distorção que promove, assim como ressaltamos a resistência do sujeito a essas formas de governo, em alinhamento com a direção ético-política posta por Freud sobre a impossibilidade de governar por inteiro. Indicamos modalidades de resistência que supõem o deslocamento do gozo monitorado politicamente e mortífero para o desejo, para uma práxis caracterizada pelo resgate da experiência compartilhada do mundo, onde os processos coletivos e a reabilitação do espaço público possam tornar possível a construção de projetos comuns.26
Essa perspectiva sustenta a noção de psicanálise implicada que atravessa todo o livro. Trata-se de uma psicanálise que não se furta ao confronto com o real da história e que reconhece sua função política ao escutar os efeitos do poder sobre o desejo (grifos nossos).
Há um intenso debate em torno do papel da história na constituição do sujeito e, mais especificamente, sobre a noção de determinação histórica do sujeito. Em geral, as respostas a essa questão se estruturam em torno de uma oposição clássica: de um lado, a ideia de um sujeito atemporal, universal e desvinculado do contexto; de outro, a perspectiva que enfatiza a historicidade das relações sociais. Frequentemente, a psicanálise é posicionada nesse primeiro campo, sendo acusada de operar em um registro a-histórico.
Contudo, essa crítica ignora um ponto fundamental: há algo profundamente mascarado na maneira como temos pensado a história, especialmente diante de acontecimentos como o nazismo e o Holocausto. A partir da leitura de Rosa (2015) sobre o pensamento de Lacan, observa-se que nenhuma concepção de história fundada em pressupostos hegeliano-marxistas é capaz de dar conta de fenômenos tão disruptivos, nos quais “a oferenda a deuses obscuros, de um objeto de sacrifícios, é algo a que poucos sujeitos podem deixar de sucumbir”. Ainda assim, em De um Outro ao outro, ele reconhece que “a dimensão histórica, tal qual presente no materialismo histórico, me parece estritamente conforme às exigências estruturais”. Essas afirmações, aparentemente contraditórias, devem ser situadas: tanto Lacan quanto Benjamin interrogam a capacidade dos conceitos históricos tradicionais de explicar irrupções traumáticas que desafiam as narrativas de progresso.
Na leitura de Rosa (2015) pouco se explorou um percurso na obra de Lacan sobre “as implicações da teoria do laço social na análise dos fenômenos sociais e, muito menos, na clínica”27. Essa problemática envolve múltiplas dimensões: o conceito de história, sua relação com a estrutura e com o desenvolvimento, a tensão entre temporalidade lógica e cronológica, e o modo como história, realidade e verdade se articulam. Inclui-se ainda a questão da universalidade da psicanálise e seu lugar epistemológico no campo do saber.
A respeito da teorização de Pierre Kaufmann é possível conceber três dimensões essenciais para entender o sujeito na psicanálise: a história do símbolo, a lógica intersubjetiva e a temporalidade do sujeito. A primeira indica que símbolos e significantes não surgem isolados: eles carregam marcas do tempo social e familiar e moldam formas de desejo e identificação. O presente, portanto, está sempre atravessado pelo passado, e compreender fenômenos como trauma e repetição depende de situá-los em uma sequência histórica. Por isso, documentos, tradições e memórias funcionam como depósitos de significantes que atuam sobre nós mesmo antes de termos consciência deles (grifos nossos).
A segunda dimensão lembra que o sujeito se forma sempre em relação, que a transferência é também efeito de contextos sociais e históricos que organizam posições de poder. A relação do sujeito com o Outro aparecem na linguagem e na transferência, processo que não é neutro, pois envolve afinidade, controle, poder, exclusão e reconhecimento. Assim, a clínica deve entender a transferência não apenas como algo interno, mas também como produto de contextos sociais e históricos.
Em uma última dimensão, a temporalidade mostra que o sujeito não nasce pronto: ele se constrói ao longo do tempo. Freud chamou isso de Nachträglichkeit, a ideia de que experiências passadas ganham novo sentido à luz de acontecimentos posteriores. Onde a significação é sempre retroativa, como mostra Lacan ao explicar a constituição subjetiva pela cadeia significante.
Essas ideias ampliam a prática psicanalítica. A clínica passa a incluir arquivos, memórias e discursos sociais na escuta do sofrimento, pois a estrutura psíquica se forma no tempo e na cultura. O caso Schreber exemplifica isso: a foraclusão do Nome-do-Pai não é só um mecanismo interno, mas também efeito de contextos simbólicos e históricos. Incorporar essa perspectiva permite compreender como discursos políticos e sociais se enraízam nos sintomas e abre caminhos para intervenções que historicizem o sofrimento e devolvem a capacidade de (re)ação ao sujeito. Assim, a psicanálise deixa de ser a-histórica e se torna uma prática crítica, capaz de intervir no modo como o poder e a história moldam o desejo.
Também, a partir da leitura da pesquisadora expondo as ideias de Oscar Masotta aborda-se a questão entre história e psicanálise a partir de outra perspectiva, para o autor a psicanálise se situa antes mesmo da oposição entre história e estrutura. Retomando Lacan, lembra que a prática analítica busca restituir a cadeia simbólica composta por três dimensões fundamentais: a história de uma vida experimentada como narrativa, a sujeição às leis da linguagem que produzem sobredeterminação e o jogo intersubjetivo por meio do qual a verdade penetra no real28.
Na leitura da autora, Roland Chemama contribui para esse debate ao discutir a persistência do discurso do mestre. Segundo ele, a forma de organização social determinada por esse discurso é a que mais se adapta à constituição do sujeito conforme concebida pela psicanálise. Lacan, ao traçar um paralelo entre a estrutura do sujeito e as formas sociais que a correspondem, demonstra que existe uma homologia entre o processo de assujeitamento individual e a estrutura mais comum de dominação social. Assim, o discurso do mestre não deve ser entendido como universal e atemporal, mas como a forma historicamente predominante de submissão. A própria formulação do discurso do capitalista evidencia que novas formas de laço social são possíveis e que, portanto, não chegamos ao “fim da história”29.
Nas palavras de Rosa (2015) sobre sua leitura de Lacan no que se refere ao sujeito:
Lacan é claro quando diz que o sujeito não está lá já dado; ele se constitui, ora pela antecipação estruturante, ora pela significação retroativa que o recoloca em posição de saber. O seu movimento, próprio da condição desejante, torna sua apreensão de si e do mundo marcada pelo desconhecimento e reconhecimento e, portanto, tomando sucessiva e concomitantemente alienação e verdade, identidade e desejo, presentes em sua condição de sujeito evanescente30.
A dimensão histórica, portanto, pode operar como ferramenta valiosa tanto na clínica — onde sujeito e laço social se entrelaçam — quanto na análise dos fenômenos sociais. As relações sociais e libidinais se constroem na circulação dos significantes, e é essa circulação que cria laços específicos, produz sintomas diversos e participa da constituição tanto do sujeito quanto do objeto. A análise dos enunciados e da enunciação na cena social permite compreender a maneira como se produzem e se transformam as atribuições de valor, os lugares fálicos, os objetos e os dejetos ao longo do tempo — vejo por exemplo como foi compreendido ao longo da História as concepções de infância31, paternidade, entre tantas outras.
Neste sentido, busca-se pontuar a dimensão simbólica, imaginária e real da história, que indica a fronteira entre a questão da realidade e da verdade, nas palavras da autora “Nessa dimensão, a questão da verdade é recolocada, ou seja, o que era causa, o trauma, transforma-se em efeito de outro tipo de verdade, não factual, a verdade do desejo.”32. Desde modo, a cena adquire então um novo papel ao oferecer acesso ao desejo, que por sua natureza escapa à palavra. A narrativa da cena cria imagens e representações que revelam como o desejo se apresenta na relação com o outro, em sua dimensão dialética. A história que interessa à psicanálise não é aquela dos acontecimentos objetivos, mas a que emerge como marca do que ficou sem representação ou foi ocultado por construções imaginárias rígidas, isso é “que veda ao sujeito interrogar-se”33. É justamente o não-dito, recoberto pelo já-dito, que permite o deslocamento da cadeia significante e a produção de novos sentidos.
Nos apropriando das reflexões da autora compreendemos que a dimensão da palavra migra de uma isla da vida privada ao continental das relações sociais (grifos nossos) formando um globo terrestre — Em um planeta em que o estado de exceção é a regra, marés aprisionantes que tocam o Mar Mediterrâneo (Do rio ao mar)34 tem efeito nas tormentas sentidas no Atlântico (grifos nossos).
A relação que o privado e o social produzem pode ser problematizada pelo debate proposto Oscar Masotta35 (apud Rosa, 2015) no qual ignorar a articulação entre a dimensão privada do inconsciente e a esfera coletiva da vida política significaria reduzir a psicanálise a uma espécie de religião — fechada em si mesma e alheia ao mundo que a atravessa.
Assim é a palavra mesma, em seu caráter de testemunho que institui a história. A história não é tomada aqui como fatos e datas, mas como significâncias, como trama de sentido. Os fatos existem enquanto reclamam sentido. É sempre junto da falta de sentido, e pela exigência de preenchimento dessa falta, que se forma o pressentimento daquilo que será a história de cada um e da sociedade (grifo nossos)36.
A autora ao afirmar sobre o imbricamento da palavra em seu caráter do testemunho – elaboração chave para a História – possibilita uma outra compreensão quanto a relação de escuta psicanalítica em sua dimensão com o campo histórico, político, cultural e social. Através da caracterização em que a história de cada um se dá em uma determinada sociedade e sobre uma trama discursiva e de gozo em um determinado tempo histórico Rosa (2015) dissemina outros modos de interpretação e intervenção que a psicanálise possa ter, a partir das palavras de Lacan “por nossa posição de sujeito sempre somos responsáveis”37, a pesquisadora ecoa a formulação lacaniana de que a ética da psicanálise é inseparável da política.
A escuta clínica, nesse contexto, torna-se uma forma de resistência — não uma resistência ingênua ou militante, mas uma resistência que se faz no nível do discurso, ao restituir ao sujeito o direito de dizer e de significar sua experiência.
Essencialmente, Psicanálise, política e cultura: a clínica em face da dimensão sócio-política do sofrimento é uma obra que desafia os limites tradicionais da psicanálise e a convoca a ocupar seu lugar no debate sobre as formas contemporâneas de sofrimento. Ao articular clínica e política, inconsciente e poder, Rosa (2015) oferece não apenas uma leitura crítica do mundo contemporâneo, mas também ferramentas teóricas e metodológicas para intervir nele. Sua escrita, ao mesmo tempo rigorosa e comprometida, revela uma psicanálise que não se contenta em interpretar o mundo — ela se implica em transformá-lo, escutando nas margens da história as vozes silenciadas e costurando junto a palavra, em pontes que façam sentido, àquele(a) que diz (relembrando a um poema) “Não mais em nosso nome”38.
Foto Dario Ribelo, disponível em: https://desinformemonos.org/detras-de-nosotros-estamos-ustedes-apuntes-desde-los-zapatismos-nuestros/. Acesso em 29 de setembro de 2025
Graduada em Ciências Sociais pela PUC Minas e mestra em Sociologia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/IFCH-UNICAMP, formação em Psicanálise pela Escola Freudiana de Belo Horizonte/IEPSI-BH. Psicanalista em contínua formação, atua em consultório presencial (Campinas/SP) e on-line. Pesquisadora do Instituto de Pesquisa e Estudos em Psicanálise nos Espaços Públicos/IPEP e integrante do Coletivo Estação Psicanálise, dispositivo de escuta psicanalítica no espaço público (Campinas/SP).
- Utilizamos as notas de rodapé como ferramenta para indicar as páginas citadas ao longo do texto, no intuito de deixar a leitura fluida. Esse artigo tem como fonte principal as ideias expostas na tese de Livre-Docência de Miriam Debieux Rosa: ROSA, Miriam Debieux. Psicanálise, política e cultura: a clínica em face da dimensão sócio-política do sofrimento. Tese de Livre-Docência – Departamento de Psicologia Clínica – Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. São Paulo: São Paulo, 2015. p. 11. ↩︎
- Idem, p. 19 ↩︎
- LACAN, Jacques. O Seminário, livro 14: a lógica do fantasma (1966-1967). Sessão de 10 de maio de 1967. Inédito s/ p. ↩︎
- Idem, p. 76. ↩︎
- Idem, p. 69. ↩︎
- FREUD, Sigmund [1901] A psicopatologia da vida cotidiana. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, vol. VI, Rio de Janeiro, Imago, 1969. ↩︎
- Idem, p. 69. ↩︎
- LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, Jean-Bertrand. Diccionario de psicoanálisis. Barcelona,España: Labor, 1971, p. 329. ↩︎
- Idem, p. 70. ↩︎
- LACAN, Jacques. Função e campo da palavra e da linguagem em Psicanálise. In:Escritos. Rio de Janeiro: Perspectiva, 1978, vol. I, p.124. ↩︎
- Idem, p. 71. ↩︎
- JULIEN, Philippe. A feminilidade velada. Rio de Janeiro: Cia. de Freud, 1997 ↩︎
- Idem, p. 72. ↩︎
- CALLIGARIS, Contardo. Sociedade e indivíduo. In: FLEIG, Mario (Org). Psicanálise e sintoma social.
S. Leopoldo: Unisinos, 1993. p.192. ↩︎ - Idem, p. 09 ↩︎
- Idem, p. 21. ↩︎
- Idem, p. 32 ↩︎
- ROSA, Miriam Debieux.O discurso e o laço social nos meninos de rua. Revista Psicologia USP, v.10,n.2, 1999.p.44. ↩︎
- Idem, p. 14 ↩︎
- Idem, p. 32. ↩︎
- FERENCZI, Sándor. (2011). Reflexões sobre o trauma. In Ferenczi, S. [Autor], Obras completas, v. IV. São Paulo: Martins Fontes. (Original publicado em 1934). ↩︎
- Notícias sobre o massacre do povo palestino: FERREIRA, João; BRUM, Nathalia. Esquerda Diário. Reportagem de 9 de Junho de 2025. Disponível em: https://www.esquerdadiario.com.br/Total-repudio-a-midia-pro-sionismo-jorna l-Metropoles-acoberta-o-genocidio-na-Palestina. Acesso em 28 de setembro de 2025. ↩︎
- Idem, p. 99. ↩︎
- Idem, p. 34. ↩︎
- Idem, p. 131. ↩︎
- Idem, p. 39. ↩︎
- Idem, p. 63. ↩︎
- MASOTTA, Oscar. Introdução à leitura de J. Lacan. São Paulo: Ed. Papirus, 1988. ↩︎
- Idem, p. 66. ↩︎
- Idem, p. 66. ↩︎
- Para aprofundar esta temática ver ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. ↩︎
- Idem, p. 69. ↩︎
- Idem, p. 67. ↩︎
- O termo “Palestina livre, do rio ao mar” expressa o direito à liberdade e autonomia de um povo. Os palestinos e aqueles que defendem sua causa afirmam que a “liberdade” reivindicada “do Rio ao Mar” significa a realização do direito à autodeterminação, direito violado que, em meio à guerra genocida iniciada por Israel, o sionismo tenta criminalizar o termo sob a suposta alegação de que se trata de antisemitismo, ou seja, o ódio aos praticantes do judaísmo. Disponível em: https://cspconlutas.org.br/noticias/n/18765/grito-por-liberdade-saiba-porque-defendemos-uma-palestina-livre-do-rio-ao-mar. Acesso em 29 de setembro de 2025. ↩︎
- MASOTTA, Oscar. Introdução à leitura de J. Lacan. São Paulo: Ed. Papirus, 1988. ↩︎
- Idem, p. 67. ↩︎
- LACAN, Jacques [1966]. A Ciência e a verdade. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. ↩︎
- Poema “Dissidência ou a arte de dissidiar” de Mauro Iasi narrado por Luis Scapi em 27 de agosto de 2014. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AEPZiTis7xQ. Acesso em 29 de setembro de 2025. ↩︎