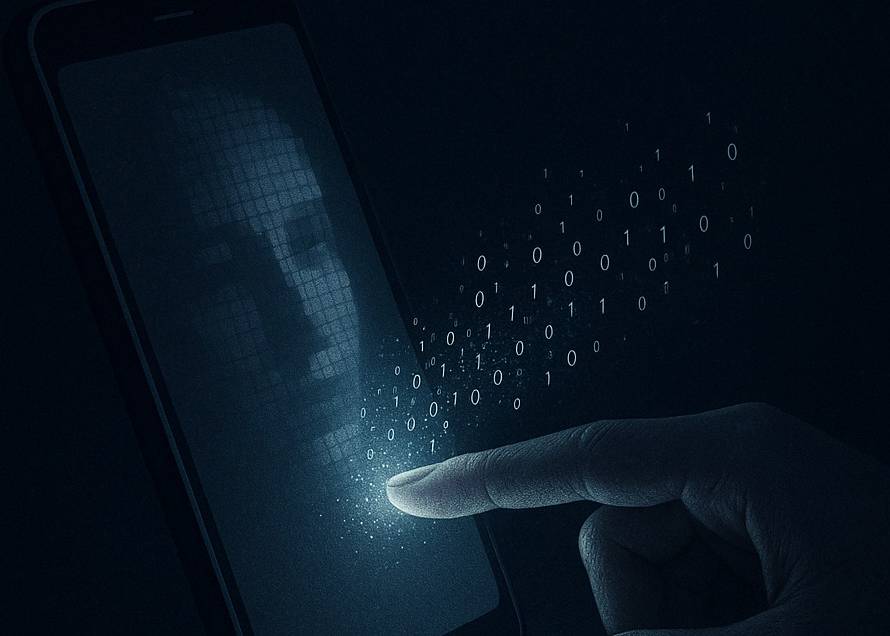Num pós-almoço de domingo, ela estava sentada na poltrona de couro marrom que fica no canto da sala de estar da casa de sua mãe. Ficou ali, sozinha. A mãe provavelmente foi para o quarto tirar um cochilo ou fazer algo na rua, mas não tinha certeza. Naquele dia estava cansada e só queria um repouso familiar.
Aquela casa, apesar de familiar, não era dela. Ela estava lá, reparando a disposição dos móveis e avaliando a decoração do ambiente, tal como faz uma visita. Notou o rack e os enfeites ao redor da televisão. Observou a cômoda de madeira antiga, bem cuidada, onde repousavam bizarramente muitos santos e santas junto com algumas clichês miniaturas de monumentos turísticos – lembrancinhas das viagens dos filhos. Viu as plantas no canto da sala, no chão, perto da sacada. Cada vez que ia lá, percebia como haviam crescido de maneira linda e saudável. Ela aprendeu a cuidar de plantas depois que nós saímos de casa, pensou. Reparou em cada quadro e nas suas ímpares disposições. Achou tudo a cara de sua mãe. Pôde ver o jeitinho dela presente em cada escolha de lugar de cada móvel e de cada enfeite.
Sentiu uma familiaridade distante.
Aquele estilo de decoração era o padrão, era aquele o jeito de uma sala estar e de uma casa ser. As outras decorações de outras casas eram sempre outros jeitos de ser e de estar – por vezes, jeitos errados. Naquele momento ela pensou como é curioso que aprendemos costumes que se tornam regras até que, de repente, os desaprendemos sem precisar desobedecer a alguém.
Na parede à sua frente, um pouco mais à direita, havia um pequeno quadro com moldura de madeira clara e detalhes dourados que combinavam bem com a luz do começo de tarde que entrava no apartamento. Ela reconheceu aquele quadro, que tinha um tamanho um pouco maior que uma folha de papel A4. Ele estava já há muitos anos na casa de sua mãe, desde quando a casa era sua também. A pintura era uma paisagem. Nela havia algumas casas que pareciam ser de alguma outra cultura, o céu era um azul-claro manso e, à borda inferior, uma singela representação de um rio. Ficou admirando a pintura por um bom tempo. Um quadro lindo, muito bem emoldurado. Que bom gosto de minha mãe e que prazer enorme ficar aqui, quietinha, admirando.
Após tanto tempo sentada, vislumbrando a obra, precisou se aconchegar na poltrona e, ao fazer isso… algo pareceu fora de lugar.
Estranhou a imagem.
Sentiu uma espécie de déjà-vu pela metade. Mas todo déjà-vu já não é pela metade? Agora já não reconhecia tão integralmente a imagem. O que, exatamente, está fora de lugar?
Não sabia. Não via com clareza.
Uma nuvem tinha escondido o sol que enaltecia os detalhes em dourado da moldura. Pode ser isso que tenha mudado.
Inclinou-se para frente, o olhar grudado na pintura. Achou que estava tonta. Será que vou começar a ficar com tontura igual a minha mãe?, ficou preocupada. Seu estômago revirou um pouco e o arrepio que subiu pela espinha a fez segurar os braços contra o corpo, como quem tenta interromper por fora algo que vem de dentro. Só faltava agora começar a passar mal. Do nada? Sua visão ficou embaçada. Estava embaçada mesmo? Olhou o quadro e respirou fundo: via perfeitamente aquilo que agora era puro incômodo enquadrado na horizontal. Pelo menos não estou com a visão turva, pensou. Mas o quadro continuava com algo estranho – muito estranho. Para onde foi o conforto em vê-lo?, se perguntava, reminiscente.
Aflita, levantou-se da poltrona para examinar mais de perto e, antes mesmo de ficar completamente em pé, viu a pintura se mover dentro da moldura. A imagem se desestabilizou. As casinhas, antes no centro da paisagem, estavam mais abaixo. Sabia pouco de pintura, mas sabia que normalmente elas não se mexem.
Parou daquele jeito mesmo – torta e corcunda que nem a avó – e começou a pensar se tinha enlouquecido – que nem a outra avó. Talvez sempre tenha sido assim e eu só reparei agora, dizia para si mesma tentando se acalmar. Endireitou a coluna e aconteceu de novo: a pintura mexeu.
Com o estômago revirando no desassossego e o medo tomando conta do resto do corpo, não quis se mexer de novo. Ficou enrijecida como uma estátua. Sem mover um músculo, encarou o quadro fervorosamente.
Manteve-se ali: quem sabe se eu não me mexer mais, ele também não se mexe.
Em algum momento ele retornou, o sol, e os detalhes em dourado voltaram a chamar sua atenção. Prestando atenção na moldura, distraiu-se por um instante daquele momento perturbador. Numa inspiração funda, o movimento do seu peito levantou as casas do quadro, que agora subiam em direção à borda superior. Expirou e lá se foram as casinhas descendo de volta para a linha do horizonte. Respirava lenta e profundamente, enquanto para cima e para baixo seu peito carregava as casas, as rochas e o rio. Tudo de acordo com o ar que entrava e saía dos seus pulmões.
Mas eram as casas e as rochas que estavam de acordo com o seu pulmão ou o seu pulmão que estava de acordo com elas? Pôs a prova e parou de respirar. Com os olhos sugados pelo quadro, perdeu-se de sua respiração, que continuava independente de seus comandos neurais.
Entendeu que já não estava apenas refém do fato de que aquela pintura se mexia deliberadamente, mas também seu corpo estava refém dos movimentos daquele quadro.
Com a luta de quem tenta se acordar de uma paralisia do sono, fez-se olhar em volta. Tudo na sala estava igual e profundamente diferente: os santos, a cômoda, os monumentos, as plantas. Tudo em completo desacordo harmônico. Um aperto súbito no peito a fez tentar, inutilmente, conter a dor com a mão – como quem teme que aquilo de dentro saia e fique exposto. Imaginou seu desamparo expurgado ali no chão da sala, em carne viva; precisava se conter.
Sozinha na sala de estar de sua mãe, parada em pé do lado da sala oposto ao quadro, sabia que nos dois metros de chão que a separavam da pintura, rompia-se um abismo.
Ela se inclinou para cima e para a esquerda e pôde ver surgir um rio azul muito maior do que via antes. Inclusive, tinha ali um barquinho marrom. Outro meio-déjà-vu? Será que não é um mar, ao invés de um rio? E o barco? Ela também reconhecia? Minha mãe escolheria um quadro assim… que se mexe?, pensou, talvez em voz alta.
Explorando os movimentos do corpo, ela entendeu que ele funcionava assim: quanto mais ela se inclinava para cima, nas pontas dos pés, mais podia ver o mar abaixo das casas. E quanto mais dobrava os joelhos e enrolava a coluna, se curvando para baixo, mais via o céu e os pássaros lá em cima.
Quis que fosse um mar aquilo que achou de início que era um rio. Um azul imenso desses! Que ideia a minha chamar esse mar de rio?, riu de si mesma. Fez o mesmo para a direita e para baixo, perguntando-se o que mais poderia ver para além do que já se via e se perguntando se realmente via tudo aquilo.
Para além das casinhas, havia um céu no começo da manhã. Com algumas nuvens bem sutis e poucos pássaros bem longe no horizonte. Era isso mesmo? Eles voavam por lá. Ela se lembrava? Se lembrava, mas não tinha certeza se era verdade.
Queria se aproximar do quadro, mas o abismo já tinha se aberto entre os dois e apesar disso ela se sentia bem –
bem na beira do abismo.
Mas como é que isso estava acontecendo, pelo amor dos santos e santas de minha mãezinha? Não tinha ferramentas suficientes para sustentar o que via e nem para sustentar dizer que não via. Estava petrificada e pôde sentir novamente o corpo reagindo ao desamparo. A ansiedade de se perceber incontrolável começou a tomar conta de tudo. Então, sem decidir nada, tomou a angústia que a dominava e, num arranco cego, pulou o abismo que a separava do quadro e se jogou para frente dele.
De cara com a pintura.
Ali, no meio da pintura de sua mãe, dessintonizando com o mar, o rio, as casas, os pássaros, o barco, as rochas… viu um rosto. Um rosto completamente perplexo e perdido: o seu.
Achou o azul dos seus olhos turvo diante do azul do mar. O branco amarronzado de sua pele destoava do branco das casas e do marrom do barquinho. Seu cabelo, ondulado e escuro, não acompanhava as ondulações das rochas.
Sem respirar, virou-se para trás e viu.
Viu uma paisagem imensa erguendo-se acima da poltrona de couro marrom, ocupando quase a parede toda. Casas de um lugar distante, um mar em vários tons de azul e um barco marrom; um céu do começo da manhã, montanhas no horizonte e pássaros voando bem longe de nós: tudo em pinceladas firmes e delicadas, enquadrada por uma moldura de madeira escura. Lisa. Simples.
Voltou a olhar o quadrinho à sua frente e viu.
Viu aquela pequena linda moldura de madeira clara com detalhes dourados. Percebeu que ela não contornava a tela da pintura de sua mãe. Aquela linda moldura contornava um frágil vidro metálico. Um espelho que refletia o quadro na parede atrás dela. Um quadro enorme, que jamais caberia naquele espelho por inteiro. O quadro que ela agora via sem os limites de uma imagem refletida.
Enquanto olhava para o espelho, deixava-se levar pela moldura que a fascinava. Os detalhes em dourado que a hipnotizavam: como eram bonitos, como ornavam com o tom de madeira que moldava essa imagem — imagem essa que é sempre outra coisa. Olhou para o seu reflexo novamente. Agora sabia que era uma projeção. Ficou ali, vendo. E por alguns instantes o espelho aparecia para ela, antes que ela se visse novamente.
Sua mãe voltou para a sala com um cesto de roupa suja nas mãos, viu a filha com os olhos arregalados e o rosto quase grudado com o espelho, riu e disse:
– Tá se admirando aí, é?”
Formada em Psicologia (PUCC), CRP: 06/177379. Experiência clínica pelo Serviço-Escola no Hospital PUC-Campinas e pelo Treinamento em Psicoterapia de Apoio e Arteterapia pelo Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas (UNICAMP). Pós-graduanda em Teoria Psicanalítica pelo IPEP.
- Instagram: @carolinamanente_