Em tempos de debates exaltados sobre a realidade de um curso de graduação em psicanálise, reli dois textos, publicados na Folha de S. Paulo, no ano de 2022, que me possibilitaram uma pequena reflexão. De um lado, o psicanalista e médico Marco Antonio Coutinho Jorge, expondo sua visão crítica acerca desse tipo de graduação; de outro, Érico Andrade, filósofo, professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e psicanalista em formação, trazendo uma outra versão, à época, sobre a possibilidade de criação deste curso, ao mesmo tempo em que dirigia uma crítica ao modelo de formação dos psicanalistas no Brasil.
No texto intitulado “Bacharelado em psicanálise é aberração”, publicado em 11 de janeiro de 2022, Coutinho Jorge defende que a formação do psicanalista não deve ser reduzida a uma graduação em psicanálise. Seu argumento central repousa sobre a ideia de que a psicanálise, desde Freud e Lacan, constitui uma prática ética e clínica irredutível à lógica curricular e institucional da universidade. Segundo ele, desde a criação da psicanálise por Sigmund Freud “até os avanços substanciais da teoria e da clínica psicanalítica trazidos pelo ensino de Jacques Lacan, a formação analítica é oferecida exclusivamente pelas sociedades de psicanálise, criadas para este fim há mais de cem anos”. Nelas, afirma Coutinho Jorge, “o estudo da teoria psicanalítica é intimamente associado aos outros dois pilares — análise pessoal e supervisão clínica — que sustentam a formação como um conjunto consistente de atividades atravessadas pela experiência analítica pessoal dos analistas que ensinam”.
A posição de Coutinho Jorge está baseada na mobilização do Movimento Articulação das Entidades Psicanalíticas Brasileiras, criado há mais de 20 anos com o objetivo de salvaguardar a especificidade da ética inerente à prática analítica. O manifesto divulgado pelo Movimento, citado no texto, sintetiza a oposição veemente a tal empreitada: “Reduzir a formação analítica ao conhecimento de teorias e técnicas, prometendo que em quatro anos, cumprindo determinados requisitos, todos estejam aptos para a prática psicanalítica, contradiz o conceito de ensino e transmissão da psicanálise”. E ainda: “A formação em psicanálise, resultado da análise pessoal, da leitura crítica da teoria e das reflexões clínicas, ocorre sempre de maneira singular, não cabendo em programas fixos e comuns para todos, em um tempo predeterminado”.
Para Coutinho Jorge, o estudo da teoria analítica, isolado, não forma um analista. É preciso que o ensino seja oferecido no interior de um protocolo de formação que coloque “a análise pessoal no primeiríssimo plano, seguido do acompanhamento da prática clínica oferecida por analistas experientes”. Mais do que isso, ele ressalta que “a análise que é exigida de um analista em formação é a mais longa e profunda possível” e que, por isso mesmo, continuo citando-o, “muitas vezes os analistas retornam à análise, como Freud já recomendava”. Em resumo, nas suas palavras: “o acesso ao inconsciente, que forma o analista porque lhe proporciona uma vivência subjetiva do que é a experiência da análise e lhe dá condições de tratar seus analisandos, não se restringe ao estudo sobre o inconsciente”.
A crítica de Coutinho Jorge a respeito do risco de mercantilização da psicanálise é enfática. Para ele, “instituir um curso de graduação de psicanálise, que apresenta claramente em seu bojo uma motivação empresarial e despreza os objetivos de uma formação legítima, é um grave atentado à existência da psicanálise como método de conhecimento e tratamento”. Trata-se, segundo o autor, de “negar o protocolo de formação necessário e oferecer uma ilusão perniciosa aos jovens que desejam encontrar na psicanálise uma fonte de conhecimento”. Sua conclusão é enfática: cabe ao Ministério da Educação “rever a autorização que foi dada a este curso ignominioso que, de psicanálise, só tem o nome, nada mais”.
Alguns dias depois, Érico Andrade escreveu, no mesmo jornal, o texto “Democratizar a psicanálise”, publicado em 17 de janeiro de 2022. Ele desloca o debate. Embora reconheça que a criação de uma graduação em psicanálise seja questionável sob diversos aspectos, Andrade utiliza a polêmica como ponto de partida para expor as contradições internas da própria comunidade psicanalítica. Seu argumento é incisivo: a psicanálise, enquanto discurso, se apresenta como um instrumento teórico de crítica ao neoliberalismo, mas sua prática institucional é profundamente capitalista.
Logo no início do texto, Andrade apresenta o problema de forma direta: “Poucas pessoas no Brasil podem usar o valor de um carro ou de um apartamento para enveredar na carreira de psicanalista”. Para contextualizar essa afirmação, abro aqui um parêntese importante: vale recorrer aos dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE: o rendimento médio mensal do trabalhador brasileiro é de R$ 2.851, e mais de um terço dos trabalhadores (35,3%) recebe até um salário mínimo. Apenas 7,6% da população ocupada tem rendimentos superiores a cinco salários mínimos. Isso significa que, para a imensa maioria dos brasileiros, investir o equivalente a um carro ou apartamento — valores que podem variar entre R$ 70.000 e R$ 100.000 — em uma formação psicanalítica é simplesmente inviável. Para quem ganha a renda média nacional, isso representaria entre 24 e 35 meses de salário integral, sem descontar nenhuma despesa. Para quem ganha até um salário mínimo, mais de cinco anos de trabalho. Fecho o parêntese.
Segundo Andrade, “o alto custo da formação, que envolve o pagamento da mensalidade da sociedade ou associação de psicanálise, da análise pessoal e da supervisão, desenha um perfil de psicanalista que talvez esteja de fato mais próximo da Viena de Freud do que das comunidades e favelas do Brasil”. Ele aponta que, “durante toda a presença da psicanálise no Brasil se fez muito pouco para alterar esse círculo vicioso: paga-se muito para a formação em psicanálise e compensa-se cobrando muito nas sessões”. O resultado é que “alguns psicanalistas midiáticos cobram um valor para cada sessão muito maior do que um salário mínimo”.
A crítica de Andrade se aprofunda ao revelar uma contradição estrutural: “a psicanálise é usada como instrumento teórico de crítica ao neoliberalismo, mas a sua prática é bem capitalista. Aqui não se trata de uma ambivalência, mas de uma contradição”. Ele argumenta que Marco Antonio Coutinho Jorge “não percebeu que a psicanálise não irá se tornar ’empresarial’ com uma eventual graduação pela simples razão de que em algum sentido ela já é empresarial, visto que serve apenas à parte abastada da população”.
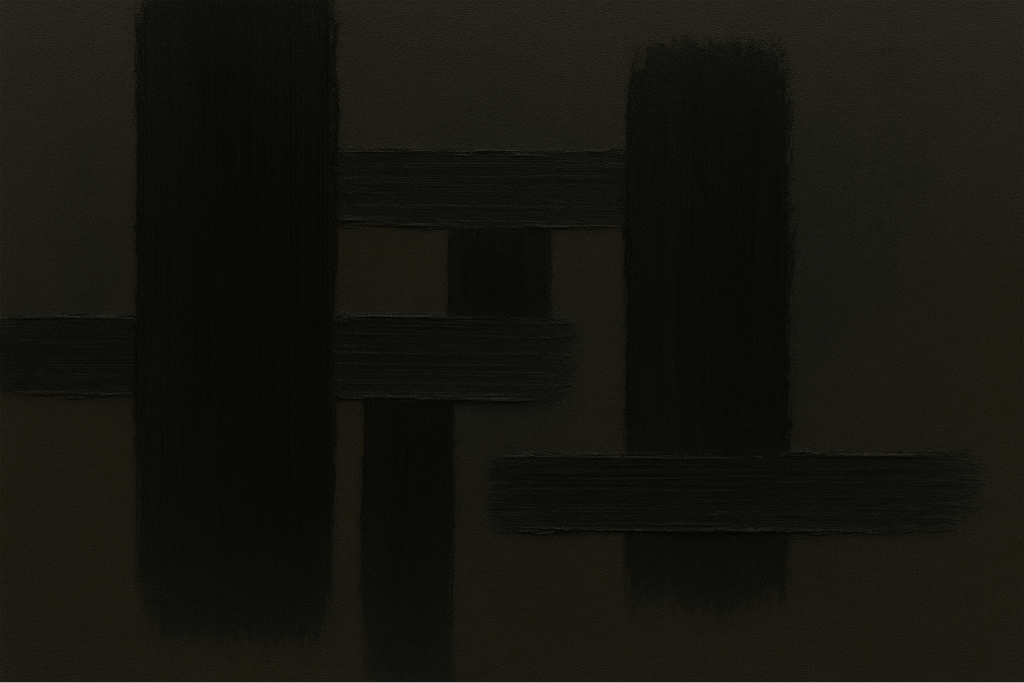
Diante desse diagnóstico, Andrade propõe uma saída: “As sociedades devem realizar, como instituição, projetos de difusão e formação em psicanálise dirigidos às pessoas que têm interesse, mas que não podem arcar com os custos da formação”. É preciso, segundo ele, “converter esses valores exorbitantes da formação, pagos apenas por quem tem na sua clientela empresários, juízes, procuradores etc., num benefício público por meio do fomento a uma formação social — voltada para quem não é herdeiro nem tem um capital alto para investir numa formação de qualidade”.
Sua conclusão é que, “se a ideia de uma graduação em psicanálise é questionável por várias razões, ela ao menos serve para que a comunidade psicanalítica atente que não basta ter uma clínica social (que, aliás, quase nunca existe): é preciso uma formação social”. Sem isso, alerta Andrade, “a psicanálise está condenada a repetir a desigualdade brasileira sem se dar conta de que parte do nosso sofrimento psíquico tem uma raiz, como ensinou o próprio Freud, na cultura”.
O que parece tudo isso? Uma controvérsia produtiva! Gostaria de destacar algumas tensões importantes presentes em ambos os textos. A escolha desses dois artigos foi proposital: ambos foram publicados em períodos próximos, em um jornal de grande circulação no país — ou, ao menos, no estado de São Paulo (vale aqui uma autocrítica). A ideia é que, dessa forma, seja possível analisar o debate a partir da perspectiva dos estudos de controvérsias — como propõem Bruno Latour e outros autores dos estudos sociais da ciência —, que buscam compreender não apenas o que está em disputa, mas também como se constituem os debates públicos sobre questões ainda não estabilizadas. Nesse sentido, o que está em jogo não é apenas uma graduação em psicanálise (seja presencial ou online), mas algo bem maior: a própria definição do que constitui a prática de formar novos psicanalistas no Brasil contemporâneo.
A teoria das controvérsias parte de momentos de incerteza e disputa — como o provocado pela autorização de um curso de graduação em psicanálise pelo MEC — que revelam as múltiplas dimensões (epistemológicas, éticas, políticas, econômicas) que sustentam uma prática ou um campo de saber. Ao aplicar o princípio da simetria (como apresentado acima), característico dessa abordagem, podemos tratar de forma equilibrada os argumentos de ambos os lados, sem privilegiar a priori nenhuma posição, mas buscando compreender a complexidade do que está em jogo.
Em Coutinho Jorge, a aparente defesa da “pureza” da tradição analítica se ancora numa posição de defesa de uma certa tradição institucional — o que me parece legítimo, mas não sem consequências. Ele não chega a problematizar que o próprio modelo que defende, em suas palavras, “a análise que é exigida de um analista em formação é a mais longa e profunda possível”, pode-se ler: um processo longo, caro e de difícil acesso para a maioria dos jovens brasileiros, e já opera dentro de uma lógica social de distinção, que tende a reproduzir desigualdades e a manter a psicanálise num círculo relativamente fechado. Não haveria aí um paradoxo? Ao denunciar a captura da psicanálise pelo mercado, não se mantém, ainda assim, um modelo que também exclui e hierarquiza, apenas sob outra forma?
Além disso, a defesa de que a formação analítica só pode ocorrer nas sociedades psicanalíticas parece ignorar que a universidade não é, por definição, incompatível com a ética da psicanálise. Basta lembrarmos da experiência da Policlínica de Berlim (que não era uma universidade, vale ressaltar), que já nos anos 1920 mantinha um programa estruturado de formação, com horas de atendimento, cursos e supervisões, tudo previamente estabelecido – basta ler os textos de comemoração dos 10 anos da Clínica de Berlim (1920-1930) – Zehn Jahre Berliner Psychoanalytisches Institut. E mais: tanto na Europa quanto na América do Sul, encontramos experiências riquíssimas de ensino e pesquisa em psicanálise no âmbito universitário, amplamente documentadas pela literatura especializada. O próprio tripé da formação — análise pessoal, estudo teórico e supervisão clínica — não nasceu como uma “essência” imutável da psicanálise, mas foi se consolidando historicamente a partir de experiências institucionais diversas, incluindo aquelas que dialogavam com o ambiente universitário.
Já em Andrade, embora a crítica ao elitismo da formação seja pertinente e necessária, há um sério risco de confundir a democratização da psicanálise com sua escolarização — isto é, de supor que o problema do acesso possa ser resolvido pela simples criação de um modelo curricular. A questão talvez não seja “ensinar” psicanálise, mas criar condições para que o sujeito se confronte com sua própria divisão subjetiva, e isso não se realiza nem no consultório nem na sala de aula, mas apenas na experiência efetiva de uma análise e no exercício de uma clínica.
Ao mesmo tempo, a proposta de Andrade de uma “formação social” — projetos institucionais de difusão e formação pública que permitam que pessoas sem alto capital financeiro possam ter acesso a essa experiência — é promissora, mas levanta questões práticas importantes: como viabilizar financeiramente tais projetos? Como garantir que eles não reproduzam, em outra escala, as mesmas hierarquias que se pretende combater?
Entre as posições de ambos, abre-se um campo fértil de reflexão. Se Coutinho Jorge teme que um curso de graduação possa desfigurar a especificidade da psicanálise, Andrade sugere que a própria estrutura institucional vigente já a compromete, ao reproduzir o elitismo que a psicanálise, em princípio, deveria ser capaz de criticar. Seguindo a perspectiva dos estudos de controvérsias, compreendemos que não se trata de “resolver” o debate escolhendo um lado, mas de reconhecer que a própria disputa é produtiva. Ela nos obriga a repensar criticamente as condições históricas e sociais da transmissão psicanalítica no Brasil.
Os impasses revelam algo mais profundo: a necessidade de repensar a formação do psicanalista no Brasil a partir de critérios próprios, que dialoguem com as transmissões do passado sem simplesmente repeti-las acriticamente, mas sustentando-as em novas condições históricas e sociais. Ou seja, nós, psicanalistas, deveríamos tornar público esse debate — nossas dificuldades, impasses e conquistas — não apenas diante de nossos pares e dentro das instituições, mas também perante a sociedade, à qual a psicanálise, afinal, continua a dirigir sua escuta e seu compromisso ético. A controvérsia, assim, não é um problema a ser superado, mas uma oportunidade de repensar criticamente as condições da formação psicanalítica no Brasil atual.
E você, o que pensa sobre isso?
Francisco Capoulade é psicanalista, diretor e cofundador do Instituto de Pesquisa e Estudos em Psicanálise nos Espaços Públicos (IPEP) e pesquisador convidado no Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS – EHESS/Lier-FYT, Paris) em 2025. Doutor em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e em Psychopathologie et Psychanalyse pela Université Paris Cité (Paris-Diderot), é bacharel em Filosofia e mestre em Psicologia pela PUC-Campinas. Atualmente, realiza pesquisa de pós-doutorado na USP sobre a recepção do ensino de Lacan no Brasil (Bolsa FAPESP). Em 2016, dirigiu o documentário Hestórias da Psicanálise: Leitores de Freud, que discute a recepção do ensino freudiano no Brasil. Coordena o curso de pós-graduação em Teoria Psicanalítica do IPEP/UniFAJ e tem publicações sobre história e epistemologia da psicanálise. Foi membro da ACP de 2010 a 2025, presidindo a instituição entre 2018 e 2020.
- Instagram: @francisco.capoulade


