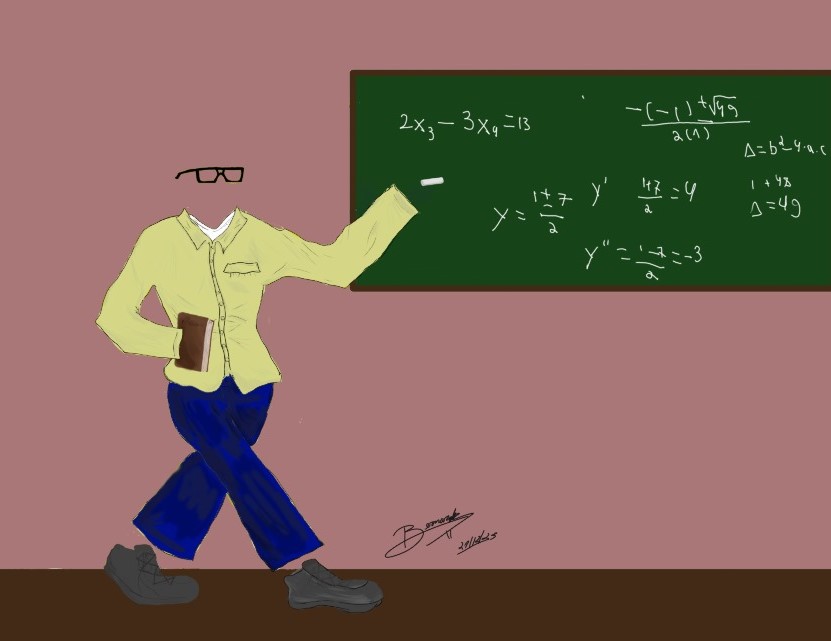Alex Barreiro, Eduardo Sande e Francisco Capoulade
[Linha de Pesquisa Desafios para a Clínica Psicanalítica Hoje]
No dia a dia, é comum escutarmos nas diferentes frases e conversas o emprego da palavra sujeito como sinônimo de indivíduo, ou seja, alguém responsável por suas ações e que possui direitos e deveres, exemplo: “aquele sujeito não sabe o que diz”, “gosto demais desse sujeito” ou “esse sujeito não vale nada”. Nesse sentido, o emprego da noção de sujeito nos leva a refletir sobre a existência de um Eu coeso que sabe sobre suas atitudes, que possui intenções e interesses.
Na psicanálise, no entanto, a noção de sujeito se difere desta compreensão compartilhada no senso comum. O sujeito na teoria psicanalítica não possui domínio ou clareza do que deseja, ele pode ser visto como um efeito do inconsciente, dividido, logo distinto da noção de um “Eu” coeso (Freud já revelava isso que dizia que o eu não é senho em sua própria casa, vale dizer). Há algo em nós que fala, deseja e goza, apesar de nós. Portanto, o sujeito na teoria psicanalítica é o sujeito de desejo, de conflitos, de efeitos e marcado pela falta, da qual alimenta a expectativa de um dia reencontrar o objeto capaz de obturar essa marca faltante e retornar a uma noção de completude que nunca existiu.
O sujeito na psicanálise se constitui a partir da linguagem, se estruturando em torno do que desconhece sobre si, e, portanto, é convocado pela experiência do sonho, dos lapsos, do chiste, dos atos falhos e esquecimentos, do sintoma – aquilo que Lacan chamo de manifestações do inconsciente. Assim, não se trata de se apoiar no entendimento da noção de um sujeito que decide sobre si, que sabe e tem certeza, mas de acompanhar um sujeito marcado pelas suas faltas, repetições, apostando em uma nova posição do mesmo frente ao desejo.
Apesar de podermos ler a obra freudiana tendo como premissa este entendimento de sujeito na psicanálise, o autor não se debruça sobre esta noção no percurso de suas obras. É Lacan quem se encarregará de refletir, incluir e formalizar a noção de sujeito e da constituição subjetiva, tomando como importante para desenvolver suas compreensões a relação do sujeito com o Outro, com a lei, com a linguagem e o desejo.
Na neurose, por exemplo, sabemos que o mecanismo que funda este sujeito dividido é o recalque, por isso, alguns dos significantes ligados a experiência do desejo desde a pequena infância passam a ser excluídos da consciência, contudo, como nos ensinou Freud, passam a retornar (o retorno do recalcado), mas de maneira disfarçada, cifrado, seja nos sonhos, nos atos falhos, nos sintomas, dentre outras maneiras.
Temos na constituição da estrutura neurótica, o que Lacan escreveu como S barrado (sujeito barrado), em constante conflito com o desejo, com a lei (simbólica ou legal) e com seu gozo (juissance). O neurótico está sempre pronto a tentar descobrir qual é o desejo do Outro, o que esse Outro (com o “o” maiúsculo e minúsculo) quer dele? Essas tentativas de decifração do desejo do outro, o colocam numa posição de angústia, lhe provocando muitas vezes, culpa, constante recuo diante do próprio desejo, insatisfação e uma busca por reconhecimento.
Se na estrutura neurótica, temos um sujeito constituído na relação com a falta ou com o que denominamos por “castração simbólica”, por um gozo barrado e como resultado disto assistimos o recalque, na psicose, por sua vez, pensamos em termos de “foraclusão do nome-do-pai” para se reportar a constituição subjetiva. Enquanto na neurose o sujeito reconhece a faltas no Outro, na psicose, não. É nesse sentido, que o Outro passa a aparecer de maneira invasiva e persecutória, o que implica dificuldades na separação entre a fantasia e a realidade, colocando em xeque o grau de compartilhamento da realidade. As alucinações e os delírios do sujeito psicotizado podem ser lidos como uma realidade produzida por não ter conseguido lidar com aquilo que não foi simbolizado. Na estrutura psicótica, ao contrário da neurose, assistimos um gozo sem limites, que não opera a partir da lei, por isso, muito daquilo que o neurótico recalca, na psicose aparece em público, a céu aberto.
Seguindo a mesma toada, na perversão, o mecanismo em jogo é o desmentido ou a recusa (Verleugnung) da castração. Diferente do neurótico que recalca a representação da castração e do psicótico que a foraclui, o perverso a reconhece, mas a renega ativamente. Ele não se pergunta sobre o desejo do Outro, mas se posiciona como aquele que sabe sobre o gozo e se faz instrumento para o gozo do Outro, buscando ativamente obliterar a falta que ele desmente. O sujeito perverso, ao contrário do neurótico, não se sente dividido pelo conflito; seu ato visa dividir o outro, colocando-se como objeto de uma vontade de gozo que ele acredita poder controlar e organizar.
Mas, se na neurose o sujeito recalca, na psicose foraclui e na perversão desmente, como podemos pensar a constituição do sujeito no autismo?
Para nos convidar a pensar a diferenciação da noção de autismo, devemos retomar os escritos de um psicanalista francês, chamado Jean Claude Maleval, que a partir dos estudos de Rosine e Robert Lefort e de Eric Laurent, passou a desenvolver a compreensão do autismo como uma quarta estrutura psíquica, logo distinta da neurose, da psicose e da perversão.
No autismo, o que está em jogo é a relação com o gozo do Outro e com o corpo. Nesta estrutura de constituição subjetiva não se trata de operar seu entendimento pela lógica do recalque, da forclusão ou do desmentido, mas por aquilo que denominamos de recusa radical no campo do Outro. Tal recusa pode ser pensada como forma de organizar uma proteção ou o que Maleval chamou por borda autistica.
O sujeito no autismo, diferentemente do neurótico não se estrutura no campo da linguagem por meio do significante, mas pelo signo. Desta maneira, a linguagem que serve ao neurótico, predominantemente como forma de comunicação com o Outro no autismo é uma matéria sonora que pode ser utilizada como sua organização e regulação do caráter invasivo do outro sobre ele.
Por isso, no autismo a linguagem não ocupa a mesma função que na neurose e é utilizada na sua dimensão ecolálica, repetitiva e literal, o significante não faz cadeia, contudo, isso não significa que não há sujeito, mas um arranjo singular, um modo próprio de inscrição na subjetividade que se encontra alheio ao modelo predominante.
Para lidar com o gozo demasiado invasivo do Outro sobre si, o sujeito autista recorrer a formação de uma borda, que Maleval destaca possuir componentes, sendo eles: o objeto autístico, a formação dos duplos e as ilhas de competência. Para explorar cada um desses componentes da borda, o leitor precisará se debruçar sobre a obra do autor “O autista e sua voz”, compreendendo como cada um desses componentes são erigidos como forma de possibilitar uma abertura por parte do sujeito autista para o social, evitando desorganizar-se. A ausência da construção de uma borda leva o sujeito a uma sensação de despedaçamento, aniquilação, por isso, seus gritos e automutilações, uma vez que ele encontra-se entregue ao Real.
Para aprofundarmos nossos interesses de compreender a noção de sujeito no autismo, o IPEP realizará no dia 16 de agosto de 2025 uma conferência com a psicanalista e psiquiatra Inês Catão, especialista na área e trará contribuições a tais reflexões e debates. Neste encontro, nosso intuito será problematizar as categorias diagnósticas atuais e o entendimento de autismo a partir dessas categorias, afinal, o autista na psicanálise é o autista do DSM? O que denominamos por autismo nível 3 de suporte é o mesmo que o nível 1 de suporte, ou que historicamente chamávamos por Asperger? Por que o quadro de Asperger, antes possuindo uma nosografia próprio, passa a aderir o TEA (transtorno do espectro autista)? Essas e outras questões atravessarão nossos debates e você, caro leitor, está convidado a participar conosco deste evento do qual também realizará o lançamento de seus mais novos livros.
Alex Barreiro é pesquisador do Instituto de Pesquisa e Estudos em Psicanálise nos Espaços Públicos (IPEP). Doutor em Educação pela Unicamp, professor das disciplinas Teoria Psicanalítica e Psicologia da Educação nos cursos de psicologia e pedagogia no Ensino Superior. Atualmente dedica-se aos estudos e pesquisas na relação entre psicanálise, autismo e educação. [Instagram: @alexbarreiropsi ]
Eduardo Sande é psicanalista de formação freud-lacaniana (na medida do possível). Participou do Espaço Moebius e Colégio de Psicanálise na Bahia, onde fundou com outros psicanalista a Confraria dos Saberes. Em São Paulo, participou da Contrabanda e participa do IPEP e Banda à parte. É professor da UFRN. [Instagram: @sande.eduardo]
Francisco Capoulade é psicanalista, diretor e cofundador do Instituto de Pesquisa e Estudos em Psicanálise nos Espaços Públicos (IPEP) e pesquisador convidado no Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS – EHESS/Lier-FYT, Paris) em 2025. Doutor em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e em Psychopathologie et Psychanalyse pela Université Paris Cité (Paris-Diderot), é bacharel em Filosofia e mestre em Psicologia pela PUC-Campinas. Atualmente, realiza pesquisa de pós-doutorado na USP sobre a recepção do ensino de Lacan no Brasil (Bolsa FAPESP). Em 2016, dirigiu o documentário Hestórias da Psicanálise: Leitores de Freud, que discute a recepção do ensino freudiano no Brasil. Coordena o curso de pós-graduação em Teoria Psicanalítica do IPEP/UniFAJ e tem publicações sobre história e epistemologia da psicanálise. Foi membro da ACP de 2010 a 2025, presidindo a instituição entre 2018 e 2020. [Instagram: @francisco.capoulade]