Este texto é resultado de uma série de leituras – dentre elas textos de Hans Asperger – e reflexões ocorridas ao longo do ano de 2024 no grupo de estudos e pesquisa em psicanálise e autismo, realizados pelo IPEP às sextas-feiras às 14h00, on-line.
Lucas Soares Fagundes1
Alex Barreiro2
Entregaram para os professores da escola uma das famosas “Checklists” para que cada um preenchesse segundo suas observações em aula os comportamentos de determinado aluno.
Para que o processo de diagnóstico pudesse continuar com alguma rapidez, e nesse momento a contribuição dos educadores era “fundamental”, a lista deveria ser entregue “para ontem”. Ao correr os olhos pela lista noto algumas categorias do questionário que me soam estranhas, como: “O aluno age de forma tola?”, “O aluno apresenta comportamentos bizarros?”, qual a régua aqui? Deveria comparar o aluno com os seus colegas de turma, com ele mesmo em outras épocas, ou com aquilo que eu julgo tolo ou bizarro?
Para todas as categorias que me encontrei em impasse semelhante, deixei em branco. E ao entregar a lista, faço uma provocação ao profissional psi da escola. Digo que não pude julgar se esse ou aquele comportamento era tolo ou bizarro porque atualmente eu mesmo não sei se sou tolo ou bizarro. Como resposta recebo que ao responder esse tipo de questionário eu deveria usar meu “melhor julgamento profissional”, como se o padrão ouro para responder essas questões fosse evidente, eu que estava querendo “ser do contra”. Saio desse encontro com uma confirmação: aparentemente, tolo foi questionar o que é tolo ou bizarro.
O “O autista do DSM é o autista da psicanálise?” texto de Alex Barreiro publicado no blog “Cosmopolita” procurou tensionar algumas questões socio-políticas envolvidas no diagnóstico do autismo quando visto sob a perspectiva da psiquiatria e pela psicanálise. No trabalho de pesquisa do grupo sobre “Psicanálise e Autismo” atrelado a linha “Desafios da Clínica Psicanalítica” do IPEP, temos discutido as especificidades desse diagnóstico, e a partir da pergunta que surgiu em um dos encontros: o autista da psicanálise é o mesmo autista que encontramos nas escolas? Nos pusemos a buscar como se constituiu esse diagnóstico historicamente, tomando inicialmente os trabalhos Asperger e comparando-os as descrições de diferentes versões do DSM.
Nesse texto, pretendemos compartilhar duas reflexões sobre a leitura do livro “Psychopatic Autistic” Conditions in Childhood” de Hans Asperger. A partir de Asperger desdobram-se alguns comentários que me parecem relevantes para pensarmos a educação e a escola como pontos centrais no debate sobre a inclusão de sujeitos autistas e o processo de diagnóstico. Ainda que pretenda me ater somente a esse trabalho específico de Asperger, não tratando diretamente das publicações recentes que investigam seu envolvimento com o partido nazista, o que exigiria uma análise mais detalhada, reencontraremos de certa forma esse tema nessa discussão.
A leitura dessa obra, que foi a publicada em 1944 como tese de mestrado, contém elementos interessantes para compararmos com a maneira que o diagnóstico do TEA é feito hoje. Isso porque, desde o início, a proposta de descrição nosológica que Asperger procura defender no livro está intimamente ligada ao seu trabalho no serviço de “educação terapêutica” no Hospital da Criança de Viena.
Asperger inicia o trabalho fazendo uma dura crítica aos modelos diagnósticos vigentes em sua época. Em sua visão, as propostas de Krestschemer e Scheneider e a aplicação dos testes de inteligência de Binet recaem sob um mesmo erro: a partir de um, ou alguns, traços característicos, a personalidade do indivíduo seria vista de maneira restrita, tomando esses traços como fundamentais para descrever aquele indivíduo. Esse procedimento levaria a uma visão unidimensional do indivíduo que procuramos analisar:
“This means that one must renounce from the start the unidimensional typifications in the infinitely colorful entanglement of character structures, and any systematic description should be based on their multi-dimensionality.3” (Asperger, 1944, p.9)
A proposta inicial de Asperger para a tipificação do autismo seria uma análise “de baixo para cima”. Tentando se afastar da prática psiquiátrica que se apoiava nos testes de inteligência e avaliações exclusivamente médicas, que por conseguinte reduziriam a capacidade de entendermos essa criança, Asperger elege o ambiente escolar, ou seja, onde a criança apreende e estabelece relações com seus pares, como um lugar privilegiado para que essa observação fosse feita.
As observações que Asperger relata nos quatro casos clínicos apresentados no livro demonstram, logo de início, um olhar atento não para a presença ou ausência de uma capacidade para aprender determinado conteúdo escolar, mas sim, para as relações que a criança estabelece no processo de aprendizagem. Não se trata aqui de verificar se o aluno consegue ou não resolver um problema de matemática, mas procurar entender de que maneira o aluno propõe uma resolução.
Fica evidente que dentro da proposta de um exame multidimensional dessa criança, o trabalho do professor que a acompanha não se restringe ao relato dos sucessos ou fracassos acadêmicos, mas a construção de uma narrativa de como a criança se relaciona com esses sucessos ou fracassos. Asperger defende a capacidade da criança autista a apreender, no entanto, ela o faz de maneira extremamente singular.
Asperger observa que dentro das variações de capacidade intelectual de cada sujeito, permanece nos casos relatados uma mesma característica: uma resistência a aprender a partir daquilo que vem do outro. O processo de aprendizagem do autista tangencia o que é proposto, mas é necessário que se dê a partir de seus próprios termos, a partir de sua própria singularidade. Para alguns sujeitos, esse traço de singularidade será a mola propulsora para o sucesso acadêmico, para que esse sujeito seja visto como “acima da média” ou “genial”, para outros, essa resistência será o motivo do fracasso, a criança propõe uma solução extremamente singular, mas que se perde e não chega ao resultado esperado.
Retomo aqui o episódio que relatei no início desse texto. Não se trata de empreender uma cruzada contra o uso dos instrumentos propostos pela psicopedagogia, mas de constatarmos que a contribuição do professor para o processo de diagnóstico se dê atualmente de maneira tão superficial. O que observamos na sala de aula vai muito além da presença ou ausência desse ou daquele comportamento, mas se dá sobretudo sob a perspectiva que Asperger procura em seu trabalho.
Destaco abaixo um rápido episódio que se passou com um aluno que recentemente foi diagnosticado como autista. Os alunos estavam em pequenos grupos ou individualmente compondo uma pequena melodia no xilofone que depois seriam colocadas juntas como em uma colcha de retalhos. Esse aluno em particular estava animado com o processo de composição, no entanto, no momento em que voltamos a praticar como executar as peças que eles compuseram, notei um desconforto nele.
Sua execução era cheia de interrupções, e não havia a sensação de pulsação (!!!) na forma como ele tocava. De modo que se tentássemos tocar juntos, ele estaria como dizemos comumente “fora de ritmo”. Ao tentar conversar dizendo que as notas que estava tocando estavam “certas”, afinal a composição era dele, mas não havia uma regularidade na maneira como tocava, ele de pronto resistiu. Disse que não conseguiria tocar.
Começamos a trabalhar aos poucos, e em dado momento ele me diz irritado: “Você quer que eu toque na velocidade 1x, 1.75x, ou 2x?”. Se referindo a velocidade da execução, e não de sua constância rítmica. No entanto, logo entendi que a referência que ele trazia tinha relação com a maneira como podemos selecionar a velocidade nos vídeos no Youtube, deixando o vídeo mais rápido ou devagar.
A associação que ele fez era singular, nunca havia ouvido de nenhum aluno algo semelhante, mas se tratava aqui de um “erro”, tomar a pulsação pela velocidade. No momento, a única aposta que me pareceu possível foi dizer: “Vamos fazer no 1x mesmo, mas vamos nos atentar para os momentos em que a conexão está falhando e o vídeo fica carregando.” Na mesma hora a expressão desse aluno mudou, quando introduzi uma nova ideia a partir do seu próprio universo de referências o trabalho se tornou aceitável.
Agora pergunto, em qual caixinha da checklist caberia esse momento? Obviamente, em nenhuma. No entanto, acredito que esse relato poderia ajudar a compor uma reflexão acerca desse aluno no contexto de uma equipe multidisciplinar.
Na tentativa de justificar que certos diagnósticos não são estabelecidos no isolamento dos consultórios, as checklists são repassadas para que os professores façam suas observações. Com a mecanização e padronização de tais procedimentos, dilui-se a possibilidade de contribuição do professor para esse processo, e sobra para o professor o papel de validador daquilo que já foi estabelecido em consultório.
Recai sobre o processo de diagnóstico aquilo que Asperger procura denunciar em sua crítica aos testes de inteligência e as abordagens unidimensionais:
“…applying this system of personality examination to fall into the belief that the human personality can be explained as a sum of parts, as a sum of inherently constant data that, differing only quantitatively in different cases, add up to a whole through simple addition”4. (1944, p.12)
Ainda que após a leitura do texto de Asperger fique evidente uma distinção entre sua maneira de trabalhar com a criança autista com a proposta da psicanálise, logo de cara, a riqueza dos detalhes presentes nos relatos de caso nos fizeram pensar o quanto certas avaliações e laudos psicológicos que circulam nas escolas são “empobrecidos”, no sentindo de não levarem em consideração as relações entre o quadro observado e a personalidade da criança. Mesmo sob a perspectiva da psiquiatria – não estamos aqui dizendo que Asperger se interessa pelo sujeito – , o trabalho de Asperger procura dar ouvidos a elementos que são ignorados no processo diagnóstico atual.
Em um segundo momento, o texto de Asperger me parece interessante para colocarmos em perspectiva a relação entre o modelo escolar e a patologização da infância. Há um pano de fundo cruel quando pensamos de que maneira a instituição de “educação terapêutica” de Asperger integra a estrutura educacional do regime nazista. Apesar da atenção dada à essas crianças, que provavelmente seriam excluídas de toda possibilidade de aprendizagem não fosse o trabalho de Asperger, é preciso lembrar a maneira como seu trabalho com crianças autistas se configurava em um último pente fino para que fossem determinadas as crianças que podiam aprender, e as que não podiam de maneira alguma, as quais seriam levadas aos campos de extermínio.
Para Asperger, o traço fundamental do autismo seria uma limitação das relações que o indivíduo estabelece com o seu meio. E apesar de observar traços característicos do autismo que são observados pela psicanálise: a presença de ilhas de competência, a presença de objetos autísticos, a retenção de objetos pulsionais (sobretudo a voz), e as estereotipias, Asperger não procura entender de que maneira esses comportamentos possuem uma relação com a história desses sujeitos.
É interessante notarmos que apesar da riqueza de detalhes que relata sobre o histórico familiar dos casos apresentados, Asperger procura tomar o caráter excêntrico de algumas famílias como dado para a hipótese do autismo como transtorno hereditário.
Na apresentação do caso de Fritz K. se evidencia que cada um dos comportamentos observados nesse garoto, como: a resistência em seguir ordens, falar como “uma pessoa velha”, e dificuldades de socialização, eram traços tratados com certa ambiguidade pela família. Em parte, havia um orgulho de que o garoto exibisse esses comportamentos, uma vez que a família toda era reconhecidamente uma família de intelectuais excêntricos. Por outro lado, os mesmos comportamentos eram causa de problemas escolares, o que fez inclusive com que a família, com certo embaraço, buscasse o tratamento. Na descrição do caso percebemos que não havia por parte de Fritz uma recusa ao desejo do Outro, muito pelo contrário, havia ali um conflito entre a demanda da família e da escola.
As particularidades da criança autista se tornam reveses principalmente em um modelo escolar fortemente orientado pela modelo de um aluno ideal, intelectualmente apto e suscetível a certo grau de alienação necessária no processo escolar, e justamente por isso ela falha. Temos dificuldade em entender a partir do texto de Asperger qual seria a linha entre o comportamento excêntrico e o patológico, uma vez que o modelo de educação com o qual ele trabalha toma ambos por sinônimos.
Como proposta de tratamento para essas crianças que resistem a mecanização necessária para o convívio no ambiente escolar e falham em adotar condutas que favoreçam o seu aprendizado, Asperger adota estratégias de suavização do processo de mecanização. A criança autista deveria aprender intelectualmente certos procedimentos e normas que para as outras crianças viriam de forma natural. Ou seja, os esforços empreendidos no tratamento dessa criança tinham sempre como objetivo tentar criar condições para sua adaptação.
Apesar da diferença de contexto histórico, a discussão que Maria Cristina Kupfer traz no “Educação para o Futuro”, parece trazer alguma clareza para o impasse das crianças tratadas por Asperger:
“Sabe-se que a educação regular é, atualmente, uma máquina de excluir os diferentes. Mais do que isso, as práticas pedagógicas adotadas em nossas escolas são em realidade fabricantes dessa nova categoria de crianças, as excluídas do sistema regular de ensino“. (Kupfer, 2013, p.86)
A criança desajustada, autista, ou excêntrica está muito mais ligada às próprias impossibilidades do ensino regular tradicional em lidar com a presença do sujeito no ambiente escolar, do que necessariamente com um quadro patológico. No desajustamento das crianças Asperger deveríamos nos perguntar mais pela rigidez da mecanização do sistema escolar que Asperger trata como natural, do que colocarmos a criança sob o microscópio e imputarmos a ela um transtorno.
Ao pensarmos a educação atualmente, com alguma surpresa, notamos que poucos avanços foram feitos em relação a proposta que Asperger fez ainda em 1944. Aqui, novamente, a diferenciação que Kupfer faz entre a idéia de reintegração e inclusão parecem ser importantes. Se no processo de reintegração a criança é adaptada ao modelo escolar, não seria possível pensar inclusão sem que haja mudanças consideráveis no próprio modelo escolar para que essas crianças possam fazer parte.
O que temos notado nas escolas é a proposta de reintegração sobre o branding da inclusão, que passou a ter valor de mercado. Trazer a diferença e aquele que é tido como anormal pelo grupo só é possível desde que se instrumentalize e se complemente o modelo tradicional de educação; que se proponha a gradual mecanização da criança rumo a adaptação. No âmbito da educação regular poucas são as iniciativas para repensarmos o modelo de educação em favor da diferença.
Quando nos perguntamos se o autista para psicanálise é o mesmo que encontramos na escola regular, a resposta me parece ser negativa. Tendo em vista, que a psicanálise (lacaniana) em suas investidas teóricas e conceituais passou a desenvolver suas pesquisas e sua compreensão do autismo como uma quarta estrutura psíquica, diferente da neurose, psicose e perversão, significa pensar um modo particular de entrada desse sujeito autista na linguagem e sua relação com os signos e significantes, assim, como os recursos criados pelo sujeito autista para conseguir lidar com o mundo e a presença de um outro/Outro considerado demasiadamente invasivo. Autores como Jean-Claude Maleval e Eric Laurent denominam essas estratégias mobilizadas pelo sujeito autista como “Borda autística” ou “Neoborda”, e nela estão presentes componentes, como: as ilhas de competências, os objetos autísticos simples e complexos e a formação dos duplos.
Desta forma, somos direcionados a pensar o autismo sob o prisma de sua constituição subjetiva e das defesas por ele mobilizadas, o que implica tempo e demanda um envolvimento para constatar como esse sujeito se inscreveu na linguagem e está na cultura, por isso, costumamos dizer que é na relação transferencial que o analista terá a oportunidade de constatar um funcionamento autístico e quais suas questões apresentadas.
Nesse sentido, o sistema de check-list não contempla a perspectiva psicanalítica, pois uma criança com sintomas neuróticos pode corresponder a uma similaridade no que se refere a alguns comportamentos, e a soma desses pontos registrados em formulário poderia levar a um diagnóstico equivocado, adesivando a criança a um laudo pelo resto de sua vida.
- Graduado em música pela Universidade Estadual de Campinas, atua como professor de artes no Ensino Fundamental. Desenvolve pesquisas nas intersecções entre psicanálise e educação e psicanálise e artes. ↩︎
- Psicanalista. Doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (2019) e mestre em Educação pela mesma instituição (2014). Pós-graduado (especialista) em História, Sociedade e Cultura pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2012). Possui Bacharelado e Licenciatura em História pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (2009). ↩︎
- “Isso significa que é preciso renunciar, desde o início, às tipificações unidimensionais no emaranhado infinitamente colorido das estruturas de caráter, e qualquer descrição sistemática deve se basear na sua multidimensionalidade”. ↩︎
- “Aplicar esse sistema de exame da personalidade implica cair na crença de que a personalidade humana pode ser explicada como uma soma de partes, como um conjunto de dados inerentemente constantes que, diferindo apenas quantitativamente em casos distintos, se somam a um todo por meio de uma simples adição.” ↩︎

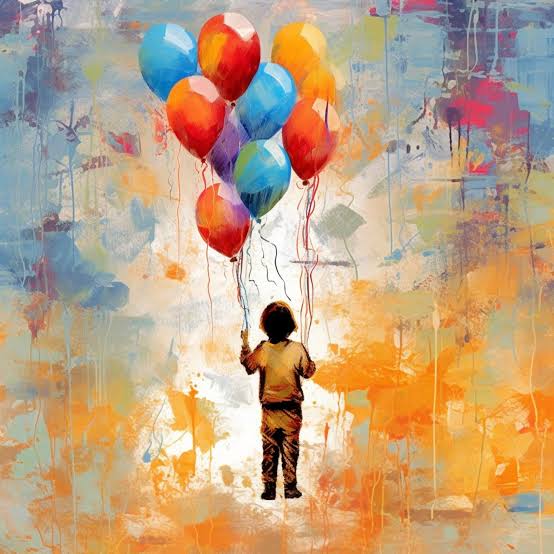

4 Comments
communalist
be9YofPnPlK
Bulgarian Fun Bags
H0VXi5jlaJy
Hello
Ahwar Yuhzbt kybqTp SeGCc tBTGOEGR IGgdnJgm
John
idICN cuTN pdTLnjw