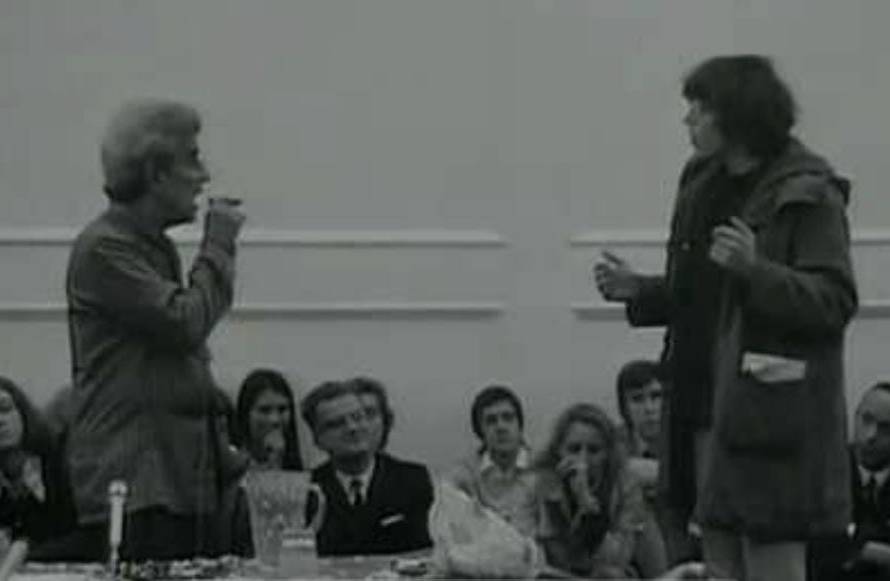Num amplo panorama das produções psicanalíticas em Educação, percebe-se que estas apontam para uma mesma origem dos impasses presentes na educação de nossos dias: as ilusões que caracterizam o pensamento pedagógico distanciam a educação de seus objetivos, para além do limite inerente a toda educação. O pensamento pedagógico segue produzindo seus efeitos (problemas, sintomas), por exemplo, vemos a participação cada vez maior da indústria farmacêutica e do discurso médico fazendo proliferar diagnósticos nos meios escolares. Na mesma proporção em que os problemas se multiplicam, acredita-se que os educadores de hoje dispõem de uma porção privilegiada de conhecimentos sobre o aluno e sobre o chamado processo ensino-aprendizagem.
Por sua vez, na contramão da aposta em domínios, a psicanálise possibilita compreender que sustentar a transmissão do conhecimento significa suportar a angústia de uma posição discursiva que exige uma renúncia narcísica. Os impasses inerentes à Educação passam pelo fato de que o sujeito está, por princípio, implicado em todo ato, o que se traduz, no exercício do educador, por sua maneira peculiar de relação com o conhecimento: seu estilo.
Antes de trazer a questão do estilo, é importante perceber que o pensamento pedagógico contemporâneo se organiza numa lógica antagônica ao que sabemos por meio do conceito psicanalítico de transferência, isto é, um pensamento que exclui a impossibilidade de que se saiba de antemão sobre os efeitos de uns sobre outros, dos efeitos que o professor produz em seus alunos; uma recusa em saber da diferença entre aquilo que se tenciona atingir no sujeito e a realidade do que se atinge numa pretensa relação.
Obviamente, não se pretende, aqui, afirmar que, para ser bom professor, seja necessário saber sobre a transferência, tampouco psicanálise. Inclusive, porque o emprego da transferência como revelador do inconsciente não é objeto da ação educativa, podendo, na maioria das vezes, não ser percebida ou, quando mal-empregada, manter indefinidamente ou violentamente os efeitos de poder, como já observava Mannoni (1988). Por outro lado, o conceito psicanalítico de transferência permite revelar boa parte (se não a gênese) de certa inconsistência do discurso que hoje pretende alicerçar as decisões no campo educativo.
Apostando no pensamento pedagógico causalístico e por meio de intervenções ajustadas ao aporte científico, a educação tem cada vez mais assumido muitas finalidades, como a indicação de diagnósticos, refletindo emblematicamente o espírito de nossos tempos, em que o poder dos remédios vem “abolir no homem não apenas o desejo de liberdade, mas também a própria ideia de enfrentar a prova dele. O silêncio passa a ser preferível à linguagem, fonte de angústia e vergonha” (Roudinesco, 2000, p. 30)
Tais variações das nomeações científicas participam das codificações no contexto familiar e escolar e têm servido como normativa, determinando a maneira como se percebe e se trata um filho e/ou um aluno com ou sem problemas. Como a constituição subjetiva é própria dos jogos de linguagem, acabam por (des)subjetivar os sujeitos enlaçados nesses discursos. Apoiando-se nas proposições de Foucault, Guarido (2006) contextualiza essa disposição da escola e da família:
de um lado uma produção científica que se consolida a partir do final do século XIX e se estende pelo século XX e que tem por pressuposto a possibilidade de mensuração empírica e de construção de categorias universais sobre o homem, especialmente seus comportamentos, sua natureza e as vicissitudes de seu desenvolvimento e de sua adaptação, representados pelas produções teóricas da medicina e da psicologia; por outro, um conjunto de práticas terapêuticas e educativas que, ao tomarem por referência esta racionalidade científica, operam como extensão desta prática, o que reconhecemos no conjunto de técnicas que vemos surgir ao longo deste período para dar conta daquilo que teoricamente se produziu.
A psicanálise busca compreender os fenômenos da infância e o que ela traz como efeito de um discurso contemporâneo que concede ao adulto um lugar, até certo ponto, de paralisia e, no limite, de desresponsabilização. Cabe-nos, então, perguntar a que respondem as crianças com seus sintomas, comportamentos e relações com os outros, quais demandas lhes têm sido dirigidas, assim como, convocar os interessados pela Educação a pensar como as ofertas simbólicas de hoje, próprias de um discurso sobre ciência, medicina, saúde, sobre a responsabilidade individual pelo bem-estar, sobre um sujeito movido pelo imperativo de gozar, têm afetado a maneira com que os adultos se responsabilizam pelo ato educativo, atravessado pelos ideais em relação à infância.
O discurso atual produz e mantém a ilusão de que, amparados pelas ciências, os procedimentos didático-pedagógicos possam trazer garantias que prescindam da efetiva implicação do adulto. Dessa forma, a “Pedagogia científica” mostra-se contrária à ideia de que o ensino possa ser uma invenção contínua, aleatória e arriscada, e que, por isso, só é possível tatear, tentar dispositivos desigualmente pertinentes e, ao final, avaliá-los de forma mais ou menos rigorosa. E, como invenção constante, a Educação sempre será um desafio e a eficácia de um método nunca será garantida, tampouco universalmente bem-sucedido.
Em oposição a todo malabarismo a que a educação se sujeita ao pretender o sucesso, Lopes (2003) traz um contorno ao que poderíamos chamar de sucesso de uma educação: muito diferente da ideia de alcance dos objetivos educacionais ou do máximo desenvolvimento infantil, cumprindo à risca as previsões das teorias psicológicas, o sucesso de uma educação residiria justamente no fato de que ela fracassa; isto é, citando Cifali: “aquele que é seu objeto [seja filho ou aluno] contraria o projeto forjado para ele e pode advir como sujeito na diferença e na separação” (Lopes, 2003, p. 119). Por outro lado, o discurso pedagógico mantém-se resistente à noção de que o inconsciente do educador se impõe às intenções conscientes. Seria necessário, portanto, renunciar a essa espécie de sustentação.
Sob o enfoque psicanalítico, sabemos que o limite inerente ao educar reside no fato de que não se submete o inconsciente. Tal impossibilidade é estrutural, uma vez que a transmissão do conhecimento é mediada pelo outro, portanto, em última instância, é o desejo que fala. O fracasso, nesse caso, se traduz em sucesso e não numa impraticabilidade, uma vez que, renunciando ao ideal imaginário, de um aluno que cumpra o dever de ser um espelho para o narcisismo daquele que ensina (munido das metodologias, didáticas, discurso médico, tecnológico, entre outros), o educador resista ao mal-estar que ronda permanentemente sua ação, colocando em cena o dever ser (do ideal simbólico) implicado no ato da filiação a uma cultura.
Portador de um saber coerente e estável, o professor tende supor saber o que diz. O pretenso “domínio da transmissão” presume que os sujeitos que participam desse ato estejam em estado de controle (e não divididos), que o saber transmitido guarde sua identidade com a verdade (da ciência) e, finalmente, que aquilo que se pronuncia atinja igualmente cada um do público, sem produzir dúvidas, furos, apenas certezas e garantias (Cifali, 1999). Em oposição, a Psicanálise compreende a transmissão como mais próxima de um mal-entendido do que do bem-entendido que o discurso atual aspira. Obviamente, quando não se fala do lugar de mestre-todo-saber, o ensino produz efeitos e (dependendo, também, do lugar do aprendiz) configura-se num ato.
Sobre uma condição que coloca em movimento o ato de educar, Lajonquière (1997) nos diz sobre a “dívida simbólica”, uma vez que define o ato de educar como de transmitir marcas simbólicas. A disposição para assumir a tarefa de ensinar tem origem na dívida que o próprio adulto contraiu pelo benefício de ser introduzido (pelo outro) na linguagem e no pensamento (ao Outro). O questionamento promovido pela psicanálise oferece condições para que os adultos assumam a responsabilidade pelo mundo onde introduzem as crianças. Hanna Arendt aborda a mesma responsabilidade em “Crise na Educação”: “A qualificação do professor consiste em conhecer o mundo e ser capaz de instruir os outros acerca deste, porém, sua autoridade se assenta na responsabilidade que ele assume por este mundo” (1972, p. 239).
Para além da dívida de sermos introduzidos no mundo da linguagem, há a dívida nascida da diferença entre o que nos tornamos e o que estava alojado nas expectativas de nossos pais. Não sabemos da magnitude da nossa dívida, assim como, mesmo passando à frente aquilo que herdamos, sempre existirá um resto: “a dívida que o pequeno recebe via educação, longe de vir a zerar-se com o tempo, mantém seu poder de endividar de forma tal que, quando ele cresce, repete a renegociação ensaiada pelo adulto anterior” (Lajonquière, 2006, p. 101).
Podemos pensar que os insucessos não se explicam pela falta de adequação na relação professor-aluno, mas se devem à destituição do professor de uma posição sua em relação ao conhecimento, conseqüentemente, à destituição de sua posição de Sujeito Suposto Saber. Uma destituição que deriva, dentre outras razões, desse mesmo discurso que comparece como salvador da derrocada educativa, uma vez que se baseia, dentre outros, no apagamento da diferença entre adulto e criança, entre professor e aluno.
A Psicanálise oferece condições para o desvio de uma cilada em suas duas versões: a primeira, de se pensar o professor como mestre-todo-saber, porque possuidor de um discurso que garante sua prática; ou, a segunda versão, um mestre impotente, porque hesitante e não autorizado em sua posição diante do conhecimento.
Eliane Lopes delineia um estatuto da psicanálise em seu encontro com a educação:
A psicanálise também não é tudo, mas pode atuar como uma disciplina (tomo aqui a palavra nos dois sentidos: organização e matéria escolar) antiideal, que permita constatar as idealizações paralisantes e as identificações que atormentam os sujeitos. A psicanálise não tomará o poder, não dará a quem quer que seja nenhum poder, mas poderá participar do debate democrático contra todas as formas de segregação, ajudando na construção de uma ética da educação e de novas formulações pedagógicas que minem as identificações que sustentam os delírios de ideal e as sujeições identitárias, o verdadeiro pesadelo da educação e da pedagogia contemporânea (2003, p. 122)
Em suma, a presença psicanalítica em Educação reside na condição de que o ideal não apague o sujeito. O desejo que impele o sujeito à posição de mestre se traduz numa infinidade de “metodologias” ou modos de funcionamento no lugar que ocupa entre o aprendiz e a cultura, numa edição sempre inédita de estilos. A transmissão da cultura, tal como pretendem Lajonquière e Hanna Arendt, em sua destinação a um outro, exige um estilo.
Estilo, na Antiguidade, era uma ponta de que as pessoas se serviam para gravar pensamentos na cera; cada um tem sua maneira de manejar o estilo, sua letra. O estilo é a individualidade e o movimento do espírito, “visível no arabesco caprichoso que o pensamento traça no seu curso” (Lalande, 1999, p. 344). Lacan (2010) diz que, nos estilos, uma cultura guardava seus tesouros. Por isso, um estilo pode ser pensado como um vaso, como os grandes recipientes de cerâmica, nos quais alguns povos da Antiguidade guardavam os documentos onde estavam registradas suas leis.
Para além do conhecimento veiculado pela posição de mestre, o que torna possível qualquer transmissão é o estilo. O que nos habilita dizer que, assim como Lacan se refere ao ensino da Psicanálise, essencialmente, o que se transmite em todo ato educativo é o próprio estilo. Singular marca do sujeito do desejo, o estilo traduz a maneira peculiar da relação com o conhecimento, constrói-se nos sucessivos encontros com os objetos do conhecimento, molda os próprios objetos e estabelece os “padrões de relação” com aqueles que estão imbuídos da tarefa de transmiti-los, enfim, se expressa como uma forma singular de testemunho de um saber: “‘Foi com a geografia’, ele diz; ou melhor, ‘testemunhem o modo como me relaciono com o objeto de conhecimento e terão uma apreensão de como ele participa de minha economia libidinal […] como ele me distrai de minha falta’.” (Kupfer, 2001, p. 133-134, grifos da autora). Paradoxalmente, o que se transmite não é passível de ser copiado, sendo que qualquer tentativa desse tipo corre o risco de não passar de uma caricatura mal feita do modelo.
Ao contemplar o outro no exercício de seu estilo próprio, uma criança construirá e se construirá em seu estilo. Ao contemplar o professor no exercício de seu estilo próprio de apropriação do objeto do conhecimento um aluno construirá e se construirá em um estilo cognitivo próprio (idem, p. 129).
A ideia de um estilo contraria a ânsia da empresa pedagógica que aspira pelo modelo mais adequado de transmissão. A racionalidade que conduz o pensamento hegemônico da pedagogia, que a faz acreditar que tudo possa ser explicado, tende a transformar todo conhecimento em método. Todavia, como já se lia no clássico texto de Millot (1995), não é necessário saber o que se faz para ser um bom educador, pois aquilo que faz ato na educação escapa à apropriação de um saber ou pensamento pedagógico: “a educação de uma criança não se deriva por dedução mais ou menos reflexiva de proposições supostamente científicas” (Lajonquière, 2004). Em suma, o modelo ou método que se tenta explicar e reproduzir é a própria rejeição do estilo.
Ao invés de buscar fundamentação ou autorização num discurso que lhe é externo, meramente auxiliar e que, em última instância, impede-lhe a visão de si, o professor pode mergulhar na complexidade dos fantasmas inconscientes que a situação formativa lhe desperta, aproximando-se dos fundamentos e disposições que caracterizam a sua singularidade como educador, seu estilo (Monteiro, 2005, p. 160).
A consequência de se pensar a partir do estilo em educação é, justamente, a responsabilização pelo ato educativo. O estilo “fala” de um ato responsável e sua ausência comparece, a educadores e alunos, sob a forma de múltiplos sintomas que escancaram o fracasso em educação.
Foto de capa: fornecida pela própria autora. Produzida por um artista de sua família.
REFERÊNCIAS
ARENDT, H. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1972.
CIFALI, M. Educar, uma missão impossível – dilemas atuais. Estilos da Clínica: Revista sobre a infância com problemas. São Paulo, n. 7, p. 139-150, 1999.
GUARIDO, R. A presença do discurso médico na educação. In Psicanálise, Educação e Transmissão, 6., 2006, São Paulo. Disponível em: www.proceedings.scielo.br. Acesso em: 14/04/2008.
KUPFER, M. C. M. Educação para o futuro: psicanálise e educação. São Paulo: Escuta, 2001.
LACAN, J.J. Seminário, livro 2: o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise (1954-1955). Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
LAJONQUIÈRE, L. de. Dos “erros” e em especial daquele de renunciar à educação. Notas sobre Psicanálise e Educação. Estilos da Clínica: Revista sobre a infância com problemas. São Paulo, n. 2, p. 27-43, 1997.
______. O Professor no divã. Entrevista concedida ao Caderno Educação do Jornal Folha Dirigida, 2004.
______. A psicanálise e o debate sobre o desaparecimento da infância. In Educação e Realidade. Porto Alegre, v. 31, n. 1, p. 89-105, 2006.
LALANDE, A. Vocabulário técnico e crítico da filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
LOPES, E. M. T. A educação (não) é tudo. Estilos da Clínica: Revista sobre a infância com problemas. São Paulo, n. 15, p. 112-123, 2003.
MANNONI, M. Educação impossível. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988.
MILLOT, C. Freud Antipedagogo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1995.
MONTEIRO, E. A. Sobre uma especificidade do ensino da psicanálise na universidade: a formação de educadores. Tese de doutorado. Faculdade de Educação da USP. São Paulo, 2005.
ROUDINESCO, E. Por que a psicanálise? Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000.
Elisabete Aparecida Monteiro. Co-fundadora do Instituto de Estudos e Pesquisas em Psicanálise nos Espaços Públicos (IPEP). Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1993), especialização em Fundamentos Filosóficos da Psicologia e da Psicanálise pelo IFCH – UNICAMP, mestrado (2000), doutorado (2005) e pós-doutorado em Psicanálise e Educação na FE-USP (2013). Autora do livro: Entre Professor e Aluno, um estudo psicanalítico sobre transferência, publicado pelo Mercado de Letras (2016).