“Respeitar as diferenças” é uma assertiva que se tornou palavra de ordem em nossos tempos, pelo menos nas sociedades democráticas, nas quais há sempre uma preocupação com a redução da desigualdade social. Podemos vê-la circular nos mais diferentes níveis do tecido social: nas instituições, nos documentos de políticas públicas, nos órgãos de mídia, na propaganda, etc.
A força desta assertiva nasceu da constatação da existência de grupos discursivamente minoritários1 – negros, mulheres, homossexuais, mas, sobretudo, pessoas com deficiência – que viam sua palavra e sua posição amordaçada, sequestrada pela palavra regulamentar do discurso dominante. Ela nasce, portanto, da denúncia de uma ordem que exclui, do acesso aos bens da cidade, alguns em proveito de outros. É assim que ela se torna o slogan dos movimentos sociais e das políticas públicas que promovem a ideia de inclusão.
Enquanto denúncia, ela foi capaz de evidenciar, de modo claro, aquilo que Bárbara Cassin(2019) , lembrando Derrida, tão bem destacou em sua brilhante fórmula: todo universal é o universal de alguém! Ou seja, não há universal neutro, ele é sempre uma versão que defende o interesse de alguém. Neste caso a denúncia evidenciou que o universal em questão é o do homem-branco-heterossexual-bem sucedido socialmente. Reside nisto o mérito indiscutível dessa denúncia.
O que deveria nos inquietar, entretanto, é o fato de que aquilo que era denúncia de uma ordem, se transforme exatamente em uma nova palavra de ordem. Claro, podemos sempre evocar nestes casos a antiga e correta tese de que para todo momento instituinte se segue inevitavelmente outro momento instituído. Ou seja, nenhuma ideia por mais revolucionária que seja, pode permanecer para sempre revolucionária sem se ver transformada, em algum momento, em uma ideia dominante.
Foi mesmo isso que vimos Lacan (1992) destacar, no contexto da efervescência dos acontecimentos de maio de 68 na França, com sua crítica à ideia e ao ideal revolucionário. Retomando o sentido astronômico da expressão revolução – que ele pretendeu apontar como tendo o mesmo valor na história – Lacan destaca que re-evolução é voltar ao ponto zero para evoluir novamente. Ou seja, há um caráter necessariamente repetitivo em toda revolução. Vocês querem um novo mestre, um novo mestre terão!
Apesar das críticas que recebeu e recebe até hoje por esta posição, entendida pela esquerda, em geral, como reacionária, entendo que o que Lacan queria destacar neste ponto era a diferença entre revolução e subversão. Na subversão – ideia já mais alinhada com uma perspectiva linguística e topológica de verso e avesso2– trata-se mais de mostrar o avesso de um discurso sem a pretensão de criar um novo, supostamente mais livre do efeito alienador do que o anterior.
A virtude de mostrar o avesso é a de permitir ao sujeito um grau de liberdade em relação a algo a que se estava alienado, mas se tratando sempre de uma liberdade relativa, jamais absoluta. Nenhuma consciência plena, realizada como tal, livre de todo Outro alienante é possível segundo aquilo que a clínica analítica revela.
O que vemos, efetivamente, na circulação contemporânea da ideia de inclusão e de respeito às diferenças é o desejo revolucionário de uma nova ordem, mais inclusiva, o que parece complicar significativamente a força de sua capacidade de denúncia, tornando-a mais vulnerável a explorações que a desvirtuam. Neste particular deveríamos suspeitar, mais do que comemorar, da ampla adesão às ideias de respeito às diferenças e de inclusão. A promoção da ideia de inclusão, na mídia em geral e particularmente na dramaturgia, parece possuir muito mais um caráter propagandístico do que revelar, propriamente, um interesse genuíno em verdadeiras mudanças sociais. O famoso “politicamente correto” que, como sabemos, é sempre suspeito de uma incorreção política. Tão ampla adesão, que inclui setores tradicionalmente reacionários, não poderia indicar a expropriação da ideia para outros fins?
O que queremos destacar é que a força subversiva das ideias de respeito à diferença e de inclusão repousa naquilo que ela aponta com relação à exclusão enquanto um mecanismo social estrutural – não há sociedade que não exclua – e não no destaque à figura particular do excluído. É justamente nesta passagem, do processo de exclusão à figura do excluído que reside, para nós, o risco de enfraquecimento do valor subversivo da ideia de inclusão.
Embora o assinalamento do processo de exclusão nunca possa se dar sem passar pelas particularidades do excluído, a ênfase nestas particularidades desvia o centro gravitacional da dimensão do universal para a dimensão do particular. Assim vemos ganhar força os movimentos identitários que buscam afirmar a particularidade e a pluralidade d “as” diferenças.
A proliferação contemporânea dos movimentos identitários e a forma como eles têm se difundido, é, para nós, um sinal – sintomático – desta passagem do “a” diferença para o “as” diferenças. Estes movimentos constituem a forma principal do apelo inclusivo nas sociedades democráticas contemporâneas. Minorias discursivas buscam agrupar-se para melhor fazer representar sua exclusão e promover afirmativamente sua inclusão. Com isso conseguiram vários direitos e prosseguem nesta luta legítima para a criação de políticas reparatórias da injustiça histórica e social da qual foram e são vítimas.
Para além deste efeito positivo dos grupos identitários o que parece ser menos percebido são suas derivas. Uma captura do que levantam estas vozes, feita pelo neoliberalismo ambiente, parece ter favorecido a geração de uma espécie de onda identitária, que sucumbe à primazia da ideia de individual definidora da política neoliberal. O grupo identitário, neste caso, é convocado a funcionar como um equivalente do indivíduo, indivisível, como célula única homogeneizando numa nova unidade, um novo universal dominante. Se este processo se efetiva emerge uma afirmação do tipo narcisista, do nós – aqui concebido como um Eu – contra os outros.
Laclau (2015) já nos fez observar este fenômeno em seu brilhante livro, cujo título anuncia, de saída, o problema em questão: “La guerre des identités”. O coletivo se pulveriza, então, em coletivos. O crescimento dos movimentos identitários, bem como suas derivas, foram muito consistentemente analisados por Elisabeth Roudinesco em seu livro “O Eu soberano” (2022). O lugar central da ideia de indivíduo e a força da ideia de identidade possuem uma razão comum: o narcisismo do eu soberano.
E o narcisismo, digamos, não é um bom platô para o processo de inclusão, uma vez que o respeito à diferença, premissa da inclusão, se conjuga essencialmente na terceira pessoa – respeitar a diferença do outro sem pretender assimilá-la a mim – e não em primeira pessoa – respeite a minha diferença! Sempre que conjugado em primeira pessoa, o respeito à diferença tende à guerra das identidades.
A possibilidade de um real processo inclusivo depende, essencialmente, da capacidade de se abrir em direção à diferença que o outro porta e não em reforçar a minha diferença. Neste sentido a diferença se conjuga no singular, pois é a diferença da alteridade. Encontramos aqui o próprio princípio civilizatório, sublinhado por Freud, no qual as pendências individuais – reforçadas pelo narcisismo – devem ceder às exigências coletivas – próprias à alteridade. Quando as pendências individuais triunfam sobre as coletivas estamos mais próximos do colonizatório do que do civilizatório.
Sobre esta dinâmica do tratamento das diferenças, o que tem se passado nas escolas, enquanto instituição fortemente concernida por políticas inclusivas, constitui um exemplo interessante a analisar. Ele parece ser mesmo um exemplo ilustrativo da apropriação neoliberal das ideias de diferença e inclusão.
A abertura dos portões da escola regular a um público que anteriormente ocupava as ditas escolas especiais, marcou o primeiro grande gesto da política inclusiva escolar. Com ele se esperava que “a” diferença que justificava a separação dos públicos em escolas distintas – as especiais para as crianças com deficiência e as regulares para as ditas normais – fosse superada por representar um caráter segregador e discriminatório. Era o universal capacitista que tornava excluída a pessoa com deficiência.
A proposta era a de que a nova escola – mais inclusiva – se transformasse para acolher este novo público, modificando o que fosse necessário em sua estrutura para receber dignamente as crianças que chegavam. Proposta, na origem, revolucionária, que incluiria, portanto, não apenas adaptações institucionais de acolhimento, mas, antes, um questionamento central à própria ideia de deficiência, enquanto funciona como um valor absoluto. De fato esta discussão se viu e se vê ainda colocada em vários níveis da organização escolar, mas sem parecer ter a força para a devida transformação esperada pela política inclusiva.
Na prática assistimos muito mais a uma reforma – uma a mais entre tantas outras das quais a escola foi objeto nas últimas décadas – na direção de uma protocolização do atendimento. Neste processo vemos, de um lado, a própria ideia de que a escola é uma prestadora de serviço e que, portanto, deve oferecer um bom atendimento, o que já é marca da ideologia neoliberal que transformou a escola em uma empresa (Laval, 2004) Uma escola é, sobretudo, uma instituição e como tal deve sustentar valores e não enveredar docilmente pela via do agradar os clientes. Não se espera da justiça, por exemplo, que agrade os clientes – que neste caso poderia ter a ver com libertar injustamente um criminoso, ou alimentar a sede de vingança da vítima. Espera-se da justiça que ela cumpra seu papel social. Porquê da escola se esperaria outra coisa?
De outro lado, a velha presença do discurso médico nas escolas, tão sublinhada e criticada por seu caráter colonizador da educação, vem comparecer com seus laudos e recomendações aos professores sobre como cuidar das crianças com deficiência. A inevitável soldagem histórica entre a noção de deficiência e o campo médico, cada vez mais legitimada pela ideologia neoliberal e cientificista, faz com que este último ocupe na organização escolar um lugar de poder.
Proliferam-se os laudos médicos e com eles as prescrições que incluem dotar a escola e particularmente os professores de funções na perspectiva de tratamento. Além da confusão que se produz entre tratar e educar, vemos surgir toda uma logística protocolar que emerge como suposta boa resposta ao problema das diferenças que estas crianças portam. A escola se sente, assim, inclusiva porque atende de modo particular às dificuldades particulares da criança em questão.
As diferenças aqui são estandardizadas em torno da figura do indivíduo com deficiência. Assim vemos protocolos do tipo: o aluno com TEA precisa, o aluno com depressão precisa, etc. As tais necessidades educativas especiais se tornam, assim, uma questão de particularidade para o bom atendimento. Num mesmo gesto a escola vira prestadora de serviço e o aluno um consumidor
O que fica de fora, por ocasião desta promoção da dimensão do particular, é justamente a dimensão do singular. Nenhuma criança quer ser incluída – em geral a etiqueta de criança de inclusão tende muito mais a pesar sobre ela, a estigmatizá-la do que a ajudá-la – ela quer existir. Ela não quer ser bem atendida, mas se sentir reconhecida em e por sua presença.
O modelo social da inclusão, para o qual a própria noção de deficiência inclui estruturalmente a forma como o entorno social a representa, tem se oposto ao modelo médico ainda hegemônico nas escolas. Este modelo social enfatiza a força psicossocial da escola como tendo um papel decisivo na inclusão, com sua oferta de um espaço social específico, no qual a criança tem a chance de encontrar um lugar de pertencimento e legitimidade que pode relativizar as implicações de sua deficiência e promover uma condição de melhor desenvolvimento.
Nesta perspectiva ele abre espaço para uma escuta para a dimensão própria do sujeito. É justamente a diferença entre a noção de sujeito e de indivíduo que se encontra aqui em jogo. Enquanto o modelo médico implica a noção de indivíduo, de atendimento individualizado, ideia, em geral, bastante agradável às famílias das crianças com deficiência, o modelo social implica o sujeito e seu singular (des)encontro com o outro – da alteridade – e o Outro escolar.
Nesta perspectiva estamos mais próximos de um tratamento d”a” diferença do que d”as” diferenças. As diferenças particulares, embora tenham um peso no processo, não são o alvo do trabalho no modelo social; o alvo é muito mais o que “em cada situação”3 concreta se apresenta como barreira institucional ao reconhecimento da presença singular do sujeito. É o Outro escolar que é o objeto da inclusão neste modelo, na medida em que sendo um lugar de código e de demanda, está repleto de enunciados que podem eventualmente fazer obstáculo à presença de uma criança na escola.
Já para o modelo médico, o Outro escolar não é uma instância a ser interpretada, mas, antes, disciplinada por um Outro do Outro escolar, no caso o Outro médico. Forcluindo a dimensão do sujeito, mesmo que pretendendo respeitar e bem atender as diferenças individuais, o modelo médico recai em um diferencialismo, sintoma do processo de diferenciação. Preso no campo d”as” diferenças – conceituais e estandardizadas- que distinguem um dado quadro diagnóstico de outro, o médico não pode levar em consideração “a” diferença – significante e singular – que marca o sujeito, aquele traço singular com o qual o sujeito se identifica e não aquele com o qual o médico o identifica.
Talvez isso explique porque se tornou tão comum os próprios sujeitos se identificarem, a despeito dos próprios médicos, com os diagnósticos que recebem. Vemos, com frequência, pessoas dizendo: sou TEA, sou bipolar, sou TOC, etc. Talvez, assim, retomem do médico aquilo que estes sem saber, os roubou, a saber, a dimensão de sujeito com suas identificações. O Eu sou, com o qual se colam aos diagnósticos, indica que nem mesmo a operação diagnóstica está totalmente sob controle dos médicos, como querem crer estes últimos. Enquanto para o médico o diagnóstico é uma referência para o tratamento, para o sujeito é um lugar de gozo.
Lembremos, para concluir, que “a” diferença é antes de tudo a marca do sujeito, marca que o separa do outro, alteritário, que poderia assimilá-lo sem distinção, não fosse a força desta diferença, mas é marca, também, que o separa do Outro, que poderia engoli-lo, absorvendo-o num código que vale igualmente para todos. Valeria a pena à todos aqueles que se encontram diretamente implicados com a questão do respeito à diferença e da inclusão não desconhecer isto que a dimensão do singular e do sujeito nos fazem confrontar.
- Destacamos o termo “discursivamente” minoritários, para lembrar que a minoridade nestes casos não se define por critérios estatísticos, quantitativos, portanto. A minoridade que queremos destacar é de caráter qualitativo, de ordem política, sublinhando que a palavra destes grupos é minorizada, graças a um ato político que deforma seu valor segundo as regras da palavra dominante. ↩︎
- Avesso é justamente a ideia central deste seminário sublinhada no próprio título dele: O avesso da psicanálise. ↩︎
- É interessante sublinhar que, no âmbito das instituições internacionais como UNESCO e ONU, as discussões teóricas e políticas em torno da questão da deficiência e do processo de inclusão levaram à formulação de um termo que vigora atualmente como o termo mais adequado para nomear a questão da deficiência: “em situação de inclusão”. A vantagem deste termo advém exatamente do que pretendemos demonstrar nesta discussão. Quer dizer, que o objeto da inclusão não é a suposta condição intrínseca do indivíduo com deficiência, mas, antes, a situação concreta em que ele se encontra – e que inclui seu entorno – no momento em que ela aparece como tal. ↩︎

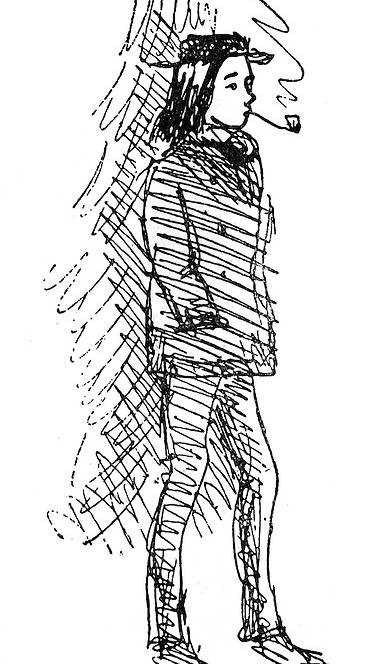

1 Comment
Solange Maria Torres de Mello
Gostaria do contato do autor para encaminhar um caso