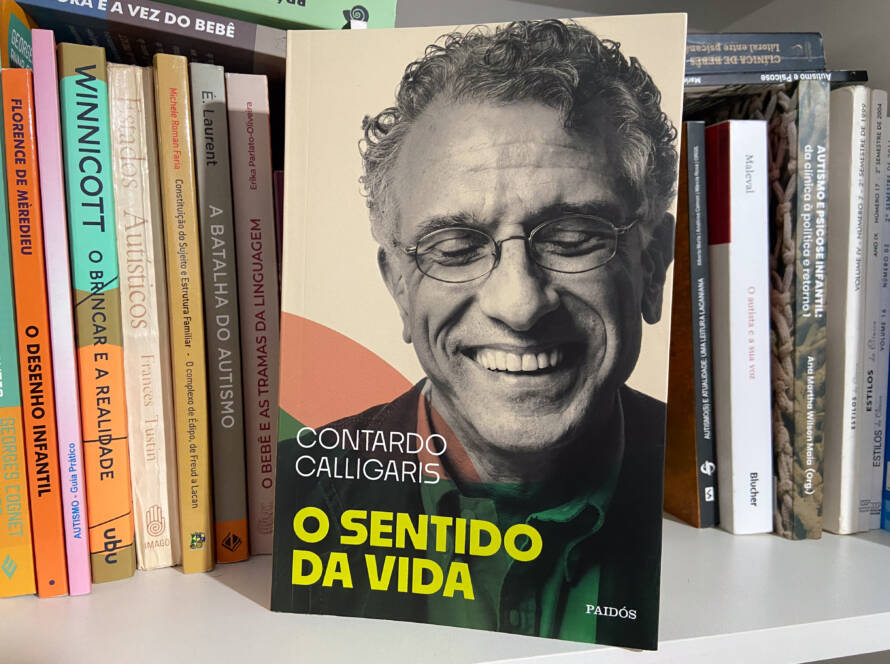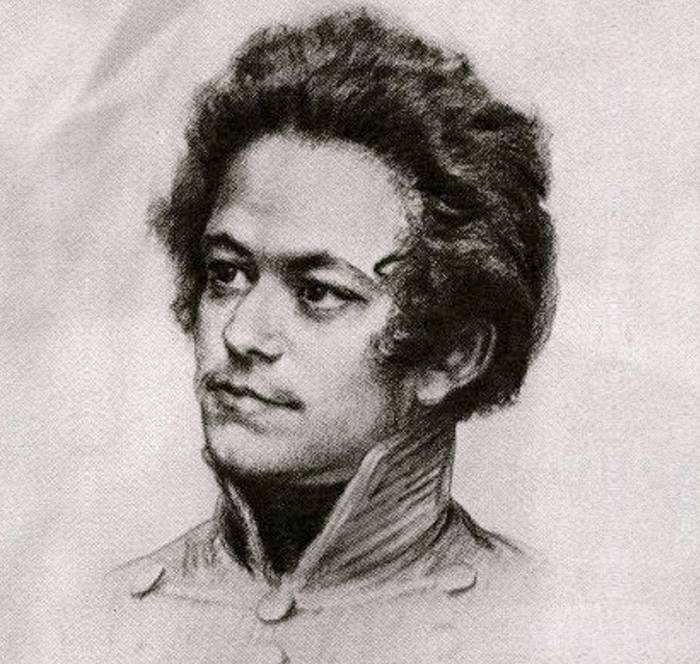Francisco Capoulade (Diretor e co-fundador do IPEP)
Elisabete Monteiro (Co-fundadora do IPEP)
Caio Padovan (Co-fundador do IPEP)
Nota dos autores:
O texto a seguir é o segundo na série de três escritos que expressam a maneira pela qual nós, cofundadores do IPEP, concebemos os Espaços Públicos, a Psicanálise e nossa abordagem de Pesquisa em Psicanálise. Estes textos são fruto de um período de reconfiguração de nossa instituição e representam a abertura de um novo capítulo em nossa trajetória. Por essa razão, decidimos torná-los públicos.
________________________________________________________________________________
Desde sua invenção, no final do século XIX, a psicanálise se inscreve no campo científico como prática terapêutica e investigativa. Seu fundamento repousa na descoberta do inconsciente — a “outra cena” — e na consequente divisão do sujeito, entendida não como falha a ser reparada, mas como condição estrutural de seu funcionamento psíquico. O sujeito é precisamente aquilo que, em si, lhe escapa: dividido entre o que crê saber e o que ignora acerca de seu desejo, ou mesmo aquilo que não sabe que sabe. É nesse hiato que a experiência analítica se instaura, não como tentativa de suturar a fissura, mas de fazê-la operar como via de acesso à verdade singular do sujeito.
Lacan, em seu rigoroso diálogo com Freud, destacou essa posição. Em A direção do tratamento e os princípios de seu poder (1958), buscou elevar a psicanálise a um patamar que, longe de se confundir com projetos de adequação social ou ideológica, se concebe, antes de tudo, como uma ética do desejo. Seu poder não emana de uma normatividade exterior, mas dos princípios imanentes à própria experiência do inconsciente. O analista não conduz o tratamento a partir de ideais de saúde, desempenho ou integração grupal. Sua bússola é outra. A lógica singular do desejo do analisante, que se desvela nas frestas do discurso, nos atos falhos, nos esquecimentos, nos sonhos, e tudo isso só se torna possível pela transferência.
Nesse sentido, a clínica psicanalítica sustenta uma política própria, distinta do sentido comum do termo — resiste, portanto, a se colocar a serviço de qualquer agenda que não seja a do sujeito em sua singularidade absoluta. O poder em jogo em uma análise não é o da dominação, do sugestionamento ou da modelagem subjetiva. Trata-se de um poder de outra ordem: o de suscitar um movimento de fala, de sustentar uma interrogação, de permitir que o sujeito enfrente a estranheza de seu próprio existir (Checchia, 2015). A política da psicanálise, portanto, é a política do um a um. Ela não se deixa capturar pelos significantes mestres do grupo, da identidade ou da coletividade, pois seu campo de ação é a divisão subjetiva — lugar onde todo universal fracassa.
Isso não implica um isolamento apolítico da psicanálise. Pelo contrário, ao se dedicar à verdade do sujeito, sempre parcial e tortuosa, a psicanálise realiza sua intervenção política mais profunda. Ela desestabiliza as certezas imaginárias que sustentam os ideologemas coletivos e, ao recusar a sujeição a qualquer doxa, preserva um espaço de resistência íntima contra a ingenuidade do consenso e a violência do sentido único. Freud inaugura a psicanálise precisamente quando se apropria de seu único instrumento: a palavra.
Dessa forma, os resultados de uma psicanálise não se medem pela conquista de um bem-estar adaptado ou pela adesão a novos ideais. Medem-se, antes, por uma transformação na maneira como o sujeito se posiciona em suas relações com o outro, com o mundo e com seu próprio desejo. Não se trata de apropriar-se desse desejo como uma posse, mas de reconhecer nele uma dimensão ética, que ao mesmo tempo o constitui e o ultrapassa. É uma aposta arriscada e solitária, que não promete felicidade, mas pode abrir a possibilidade de uma vida mais própria, menos submetida a expectativas externas e a padrões impostos.
Portanto, nossa concepção de psicanálise se sustenta em uma relação assimétrica, na qual um sujeito fala a outro que supostamente sabe — e onde, no entremeio dessa fala, algo de uma verdade não sabida pode, enfim, inscrever-se. Trata-se de uma posição política do real, que não abdica de sustentar a divisão subjetiva como a única via de acesso ao que, no humano, permanece mais vivo e irredutível. Eis a sua força e a sua aposta: que o acesso à verdade do desejo constitua, em si, o gesto mais revolucionário que um sujeito pode realizar.