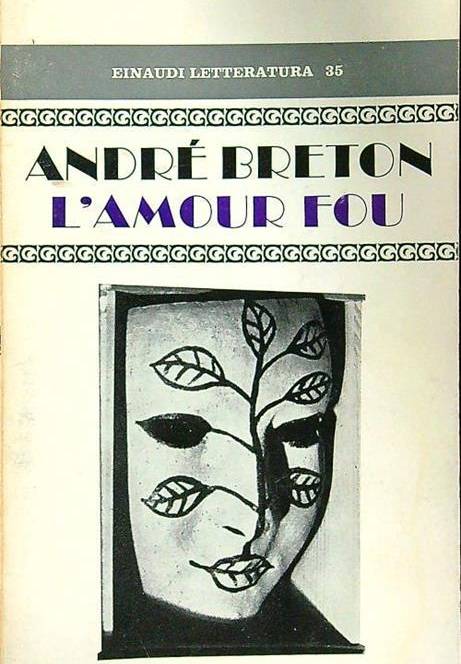Na clínica, nos serviços de justiça, saúde e educação, seja qual for o contexto, os psicanalistas estão inseridos nas dinâmicas público/privada. Especialmente no Brasil, historicamente, é na educação que os psicanalistas atuam, convocados a refletir sobre questões relacionadas ao desenvolvimento, à aprendizagem, às dinâmicas e aspectos da transferência, além de analisar como os diferentes discursos operam e respondem ao contexto político, cultural e social no âmbito educacional (Costa, 2024).
No cotidiano das escolas, assim como em outros serviços, os psicanalistas atuam na função de psicólogos, prática que, inevitavelmente, impõe diferenças e atravessamentos em relação à forma como as questões são tratadas, lidas e debatidas nos espaços de formação1. No entanto, a questão não se restringe apenas à geografia, mas à maneira como o discurso analítico opera nesses contextos, de modo que uma questão não resume a outra. Ao contrário, ela convoca o trabalho e nos desafia a não recuar frente às instituições públicas, respondendo e corroborando com as expectativas de Sigmund Freud (1856-1939), que, em seu texto Linhas de progresso na terapia psicanalítica (1919 [1918]), já antevia a possibilidade da integração e ampliação do trabalho do psicanalista nos espaços públicos, mas sem que esse trabalho fosse realizado de qualquer maneira. Era necessário questionar constantemente como fazer e como o discurso analítico deveria operar diante das demandas e saberes que circulam e constroem narrativas nesses espaços.
Por isso, o que sustenta a psicanálise, tanto no contexto público quanto privado, é a prática do analista, suas intervenções e provocações. A psicanálise não pode se limitar a um saber imposto de forma mecânica ou universal, mas precisa ser constantemente reinventada, adaptada às demandas e às especificidades dos espaços em que está inserida. Assim, a função do analista nesses contextos vai além de uma simples aplicação de técnicas; trata-se de uma escuta ativa e de uma intervenção que leve em consideração as complexidades das situações, as subjetividades envolvidas e as transformações possíveis por meio do trabalho analítico.
Esse papel exige um olhar atento para as singularidades dos sujeitos e dos contextos, sem deixar de lado o compromisso com o saber psicanalítico, que, como orientaram Freud e Lacan, deve ser flexível e dinâmico, acompanhando as mudanças sociais, políticas e culturais. A psicanálise, portanto, não se resume a uma prática terapêutica, mas é uma ferramenta crítica e transformadora, capaz de intervir, ler, pontuar e questionar as estruturas que moldam a subjetividade no mundo contemporâneo, em suas estruturas sociais e de poder, não se restringindo ao debate nem se esquivando dele.
Enquanto psicanalista inserido na educação, vejo-me constantemente envolvido em inúmeros questionamentos. Dentre os mais frequentes, destaco: O que é psicanálise? E o que faz um psicanalista? Pelo objetivo deste escrito, talvez não seja possível encontrar uma resposta direta para essas perguntas, pois, no espaço em questão, por motivos políticos, institucionais e espaciais, não é possível realizar uma análise no formato tradicional do setting analítico. No entanto, não me parece que esse seja o “x” da questão, e sim: como operar o discurso psicanalítico fora do contexto restrito de um consultório, onde a transferência e a relação analítica podem ser mais evidentemente estabelecidas?
Sabe-se que, historicamente, existe um duplo atravessamento entre a psicanálise e a educação, que, assim como em outros espaços onde o discurso analítico se insere, envolve a aplicabilidade e a fundamentação desse saber em relação ao contexto. Esse processo, inclusive, gera uma aplicação desavisada e descontextualizada em nome de uma suposta aplicabilidade técnica desse saber, transformando os conceitos, que deveriam ser operadores conceituais de orientação, em dados que, a todo custo, precisam chegar a conclusões preestabelecidas e reafirmar teorias consolidadas, sem considerar como o social, o cultural e o histórico se entrelaçam com os sintomas no campo escolar (e além dele), e com o mal-estar dos sujeitos.
Nesse contexto, Sena (2024) discute como, historicamente, a psicologia desempenhou um papel crucial na educação, sendo utilizada para selecionar, classificar e direcionar os sujeitos, tanto em termos do presente quanto do futuro. A psicologia, especialmente a psicologia educacional, visava entender e moldar o desenvolvimento das crianças e sua adaptação às normas e exigências do sistema educacional e da sociedade em geral. Esse processo de seleção e classificação tinha como objetivo garantir que os alunos estivessem adequadamente posicionados em relação às expectativas institucionais, e que sua evolução fosse ajustada conforme as necessidades do sistema.
Nesse cenário, a psicanálise, com sua ênfase na compreensão dos processos inconscientes e das dinâmicas psíquicas, foi vista como uma ferramenta possível de ser aplicada na educação, ajudando a elucidar os mecanismos internos que regem o comportamento e o desenvolvimento da criança. A ideia de transpor os conceitos psicanalíticos para o campo educacional visava fornecer uma explicação mais profunda sobre o funcionamento psíquico das crianças, oferecendo aos educadores e profissionais de saúde mental novas perspectivas sobre as dificuldades e os desafios que surgem no ambiente escolar. A psicanálise passou a ser entendida não apenas como uma prática clínica, mas também como uma teoria capaz de explicar as questões emocionais e cognitivas das crianças, particularmente no que diz respeito às suas relações com a aprendizagem, a autoridade escolar e a socialização (Patto, M. H. S., 2015; Sena, 2024; Voltolini, R., 2016).
No entanto, essa transposição da psicanálise para a educação não ocorreu de maneira simples ou sem controvérsias. A psicanálise, com sua ênfase nas dinâmicas inconscientes, conflitos internos e transferências emocionais, foi muitas vezes vista como um campo de estudo complexo e, por vezes, distante da prática pedagógica mais pragmática que predominava nas escolas. Isso gerou tensões entre a aplicação dos conceitos psicanalíticos, que poderiam ajudar a compreender melhor o comportamento infantil, e a resistência das instituições educacionais, que nem sempre estavam dispostas a aceitar abordagens que questionavam as formas tradicionais de ensino e socialização (Voltolini, R.; Gurski, R., 2020; Voltolini, R., 2016).
Em O Mal-Estar na Civilização, Freud (1930[1929]/1970) menciona o conceito de “profissões impossíveis”, referindo-se às dificuldades inerentes a certas práticas que buscam lidar com as complexidades da psique humana em contextos amplos e coletivos, como a psicanálise. No caso da psicanálise, Freud sugere que, apesar de sua profunda compreensão do inconsciente e da dinâmica psíquica, ela se depara com limitações ao tentar se inserir e ser amplamente aceita em esferas sociais e institucionais, como na educação. A psicanálise, ao tratar de questões profundamente subjetivas, encontra resistência quando aplicada em contextos mais amplos, como nas escolas, onde saberes técnicos e objetivos são mais valorizados (Freud, 1930[1929]/1970; Freud, 1937-1987; Freud, 1996-1925; Freud, 1996-1933).
No contexto educacional, a psicanálise enfrenta um desafio similar, pois sua atuação exige um olhar atento e personalizado para cada sujeito, algo que muitas vezes colide com as exigências de uma estrutura educacional que busca soluções mais pragmáticas e uniformes. Assim, embora a psicanálise ofereça contribuições significativas para a compreensão das dinâmicas emocionais e cognitivas dos alunos, sua inserção nos espaços educativos ainda se dá de maneira complexa e, em muitos casos, limitada. Essa “profissão impossível” na educação reflete a tensão entre saberes técnicos e a profundidade subjetiva da psicanálise, que, apesar das dificuldades, continua a oferecer novas perspectivas para a compreensão do desenvolvimento humano (Freud, 1930[1929]/1970; Freud, 1937-1987; Freud, 1996-1925; Freud, 1996-1933).
Se em Freud educar é uma “profissão impossível”, ao lado de governar e psicanalisar, para Jacques Lacan (1901-1981), psicanalista francês, a questão reside em como esses saberes operam na clínica com os sujeitos. No entanto, Lacan também não deixa uma teoria pronta para atuar nas instituições, mas, desde o início de sua obra, faz articulações em torno das questões voltadas às ciências e como estas atravessam as subjetividades de cada época (Lacan, J., 1998b). Por isso, cabe ao psicanalista a escuta e a articulação do que se ouve, tornando essa prática mais do que aplicável e possível no campo em questão.
É sobre essas possibilidades e a posição do analista na contemporaneidade, no que diz respeito à transmissão da psicanálise e aos espaços de trabalho, que Lacan desenvolve sua reflexão na “Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o Psicanalista da Escola“. Neste texto, ele discorre sobre diversos pontos, destacando as noções de “psicanálise em extensão” e “psicanálise em intensidade”. A primeira, a psicanálise em extensão, não se limita apenas à transmissão da psicanálise nos espaços escolares, onde há o estudo entre pares, o ensino e a escuta dos analistas sobre suas clínicas e trajetórias. Ela abrange também a reflexão e a posição do analista em seu trabalho, suas construções teóricas e práticas. Já a psicanálise em intensidade refere-se ao que sustenta o desejo do analista, o qual oferece a cada sujeito, nos espaços em que atua, uma aposta que se reflete nos efeitos de suas intervenções e ações (Lacan, 2003-1967).
Podemos inferir, então, que a “psicanálise em extensão” está intimamente ligada e, de certa forma, atravessada pelo que ocorre na “psicanálise em intensidade”. Nesse processo de troca e na narrativa da trajetória de trabalho, cada analista, a partir da psicanálise, sustenta uma postura única nos espaços de atuação, como nas escolas, e nos locais em que está inserido. É nesse contexto que se torna possível perceber como cada um constrói, por meio da prática psicanalítica, uma relação específica com o espaço de atuação e com a teoria que guia suas intervenções. Como apontado por Rinaldi (2002), é na articulação entre teoria e prática, entre o saber analítico e o contexto em que ele é aplicado, que o trabalho do psicanalista ganha forma e se realiza. A posição do analista, portanto, não é apenas um reflexo do que se aprende na teoria, mas também uma construção contínua, que se desenvolve no diálogo entre o analista e os sujeitos com os quais ele se encontra, em cada situação e espaço de atuação.
No dia a dia, o embate entre discursos, encaminhamentos e a articulação em rede convoca o psicanalista, novamente, a sair da sala de acolhimento (para não dizer setting, novamente) e a se deparar com a precariedade e o sucateamento de serviços educacionais básicos, como efeito e sintoma do neoliberalismo, que, muito mais do que uma ideologia de mercado, produz e atravessa os processos de vida dos sujeitos (Safatle, V., da Silva Júnior, N., & Dunker, C., 2021; Basso, J. D., & Neto, L. B., 2014). Dizer que isso não entra em pauta é despolitizar a questão e deixar escapar, novamente, um dos causadores do mal-estar de nossa época, que, embora não tenha se desenvolvido neste século, continua impondo sobrecargas e impactos na subjetividade.
Para além da ideologia de mercado, é preciso frisar outros instrumentos que operam essa maquinaria, sendo um deles o diagnóstico. Cada vez mais, percebe-se o aumento do acesso às nosologias psiquiátricas no campo escolar, prescritas por psiquiatras e neuropediatras infantis. A infância torna-se novamente o centro de intervenção do saber médico/psiquiátrico, que, por meio de suas escalas e testes, nomeia e prescreve tratamentos e medicamentos para os mais variados transtornos. As questões colocadas acima confrontam essa realidade, devolvendo de forma invertida as certezas e prescrições quase destináveis para os pequenos (Guarido, 2007). O papel do psicanalista, nesse sentido, não é o de simplesmente aplicar teorias, mas de construir, junto com as crianças, adolescentes e a equipe escolar, saídas e propostas de trabalho que visem não só mostrar a cientificidade ou aplicabilidade do saber psicanalítico neste campo de atuação, mas também trazer à tona algo que vem se perdendo em nossa época: o ato de perguntar. Perguntar sobre potencialidades quando se queixam de inabilidades ou insuficiências, colocar uma dúvida onde o que vigora é a verdade e a doutrina. Em resumo, diante do impossível de educar, cabe construir contornos que operem contra verdades absolutas.
Referências:
Basso, J. D., & Neto, L. B. (2014). As influências do neoliberalismo na educação brasileira: algumas considerações. Itinerarius Reflectionis, 10(1). Recuperado de https://revistas.ufj.edu.br/rir/article/view/29044, a acesso em 30/03/2025, ás 19:00
Costa, S, S. (2024). Psicanálise e Educação no Brasil: Traços de uma Formação/ Suzane dos Santos Costa. São Paulo: Editora Dialética, 120 p.
Freud, S. (1930[1929]). O mal-estar na civilização. Tradução sob a direção de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1987. (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, v. 21, p. 81-178).
Freud, S. (1937). Análise terminável e interminável. Tradução sob a direção de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1987. (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, v. 23, p. 247-290).
Freud, S. (1996). Explicações, aplicações e orientações. Em Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (1933), volume XXII. Rio de Janeiro: Imago.
Freud, S. (1996). Prefácio a Juventude Desorientada de Aichhorn. Em Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (1925), volume XIX. Rio de Janeiro: Imago. 7.
Guarido, R. (2007). A medicalização do sofrimento psíquico: considerações sobre o discurso psiquiátrico e seus efeitos na Educação. Educação e pesquisa, 33, 151-161. Recuperado de https://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/view/2645, acesso em 30/03/2025, ás 19:30
Lacan, J. (2003). Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola. In: Outros escritos, 248-264.
Lacan, J. (1998b). A ciência e a verdade. In J. Lacan, Escritos (pp. 869-892). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
Patto, M. H. S. (2015). A produção do fracasso escolar: Histórias de Submissão e Rebeldia. São Paulo: Intermeios.
Rinaldi, D. (2002). O desejo do psicanalista no campo da saúde mental: problemas e impasses da inserção da psicanálise em um hospital universitário. Saber, verdade e gozo: leituras de O Seminário, livro, 17, 53-70. Recuperado de http://www.interseccaopsicanalitica.com.br/biblioteca-autores-internos/, acesso em 30/03/2025, ás 18:00
Safatle, V., da Silva Junior, N., & Dunker, C. (2021). Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. Autêntica Editora.
Sena, I. (2024). O sujeito nas cartografias das identidades essencializadas: crítica à psicanálise praticada na educação no Brasil. Revista O Rei Está Nu, Edição 04, Julho de 2024. Recuperado de https://oreiestanu.com/wp-content/uploads/2024/09/Sena-O-sujeito-nas-cartografias-das-identidades-essencializadas-critica-a-psicanalise-praticada-na-educacao-no-Brasil.pdf, acesso em 30/03/2025, ás 18:45.
Silva Filho, R, M, da. (2021). Autorizar-se analista em instituições de saúde mental: um enlace possível? / Raimundo Manoel da Silva Filho. Pau dos Ferros/RN, 85 p.
Voltolini, R. (2016). A psicanálise implica a educação. Em Medeiros, C. P.; Almeida, S. F. C. (Orgs). Psicanálise implicada: educar e tratar o sujeito. Curitiba: Juruá, pp. 19-29.
Voltolini, R; Gurski, R. (2020) Retratos da pesquisa em psicanálise e educação. São Paulo: Contracorrente. 27.
- Em outro trabalho o autor do presente escrito, pensou a formação de Psicanalistas em dispositivos públicos de Saúde Mental, no ano de 2021. ↩︎
Raimundo Manoel da Silva Filho é psicólogo escolar e psicanalista, supervisor clínico, pesquisador e sócio de APOLa (Apertura Para Otro Lacan), Sede São Paulo.
- Email: raimundofilhopsi@gmail.com
- Instagram: @raimundofilhopsi