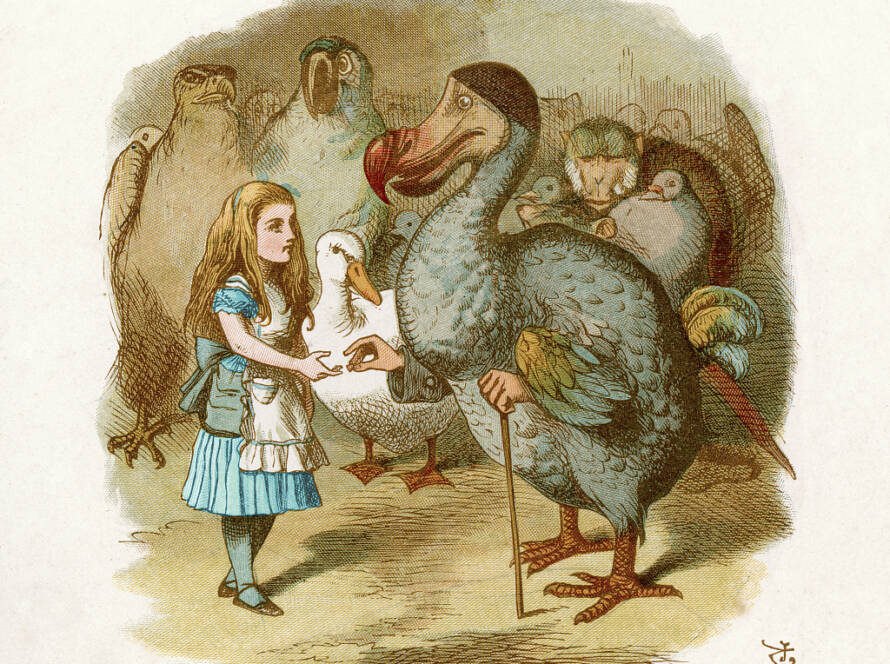Em Dançando no Escuro (2000), a protagonista Selma Jezkova, interpretada por Björk, possui uma doença hereditária que a deixará cega em pouco tempo. Sua jornada diária numa fábrica americana é economizar todo o possível para pagar uma cirurgia que livraria seu filho da mesma cegueira. Ao saber da quantia que Selma guardava consigo, seu vizinho, o policial Bill Houston, lhe rouba o dinheiro para livrar-se de dívidas familiares. Ferida naquela que era sua missão de vida, Selma procura Bill para prestar contas. O que ela não esperava é que esse encontro teria um desfecho dramático no qual Selma é impelida a assassinar Bill e a fugir com seu dinheiro. A essa altura, quem não conhece esse que é um dos principais filmes do diretor Lars von Trier acharia no mínimo inusitado saber que trata-se de um musical. Isso porque Selma, em sua rotina esmagada pelo estrondo de máquinas, pela cegueira galopante e pelo destino de seu filho, encontra no seu fascínio pelos musicais americanos o lugar de sustentação para seus devaneios. Assim, sempre que Selma se encontra em angústia, ela logo se entrega aos sons que a rodeiam, musicalizando-os e construindo em sua fantasia um espetáculo coletivo repleto de entusiasmo e solidariedade.
O cinema é das artes que certamente operam com mais eficácia o que denominamos em psicanálise por identificação. Através de seus artifícios narrativos e técnicos, nos pegamos afeiçoados a personagens banais e até mesmo simpáticos à pessoas atrozes. Isso se dá por reconhecermos no personagem que nos é oferecido algum traço que nos é comum e que permite estabelecer algum nível de “compreensão” sobre o que se passa com ele a partir de nossa própria experiência – essa é justamente a via imaginária que fundamentara a intervenção analítica via contratransferência, sobre a qual Lacan desenvolveu grande parte de suas críticas à condução do tratamento. Nesse sentido, o ensaio que aqui proponho não se debruça sobre a psicologia dos personagens de Lars, mas sobre os efeitos de suas tramas em nós, seus espectadores.
Selma nos evoca um sentimento que logo cedo aprendemos a guardar muito bem: a ingenuidade – que nos faz, ao reconhecê-la de maneira tão obscena, sermos capturados pela compaixão. É nessa posição de empatia para com a situação de Selma que Lars inocula em nós o vírus da esperança. Por mais que a história da protagonista desfile diante de nós como um inevitável desfecho trágico – visto que Selma é capturada pela justiça e condenada à morte -, sua fuga para a fantasia nos faz crer que em algum momento o tecido da realidade se romperá com algum evento redentor. No mínimo, aguardamos por um desfecho que, se não nega a condenação de Selma, nos poupará de assisti-la. Mas não. Lars nos nega essa saída e nos convida – literal e ludicamente – a contar os passos entre a cela da protagonista e sua forca. Entre gritos arrepiantes e um último transe cantado, Selma é enforcada. Não à toa, a diretora Anna Muylaert teria dito em uma entrevista que não gosta de Dançando no Escuro porque ele nos faz sentir como otários.
De fato, entre o espanto e o forte retrogosto trágico do filme, a indignação é um afeto apropriado quando somos conduzidos meticulosamente a termos esperança. Esperança de que Selma se livre de sua condenação, de que sua fantasia a proteja de qualquer mal, de que nos proteja, como espectadores, do mal de ver – nem um canapé disso nos é servido. Isso deu ao esquisitão Lars e à sua filmografia a comum pecha de “pessimista”. Ora, o que seria um pessimista senão aquele que, diante das consequências plausíveis para um ato, está na espera por um milagre maligno? Lars simplesmente dá consequência aos eventos que apresenta: Selma foi condenada à forca; logo, será enforcada. Poderão dizer que a frase que se estampa na tela após a morte de Selma é de um cinismo ímpar: “They say it’s the last song; they don’t know us, you see; it’s only the last song if we let it be“. A frase é aberta a muitas interpretações, inclusive algumas de cunho político, tendo em vista que Selma é uma imigrante tcheca e que o filme retrata um sistema jurídico e prisional míope e selvagem. Mas há algo que está dito ao pé da letra: “só será a última canção se assim permitirmos”. Se Selma desperta em nós a compaixão, ela não o deixa de fazer sem nos provocar a indignação e até mesmo o ódio por responder de maneira tão passiva e resignada à sua sentença. Ou seja, se o filme é uma crítica ácida à sociedade americana a partir do gênero fílmico que tão bem vendeu seu way of life, ele não deixa de ser uma advertência aos perigos da esperança. Pois, se dei acima uma definição ao pessimismo, penso que a inversão desta possa muito bem contemplar aqui o que chamo de esperança, a saber, a ideia de que a consequência de nossos atos se desprenderão destes e nos concederão alguma sorte milagrosa, resultando numa imobilidade justificada por um narcisismo inconfesso que diz: “Isto acontecer comigo? Jamais!”.
No último filme do diretor, A casa que Jack construiu (2018), assistimos à mórbida série de assassinatos do serial killer Jack. Através da narrativa conduzida em grande parte pelo diálogo entre o protagonista e um interlocutor anônimo, somos conduzidos ao mesmo lugar de identificação com aquilo que à distância nos pareceria mais abominável. Ao invés de nos reduzirmos a simplesmente condenar as ações de Jack, começamos a nos fazer perguntas sobre a origem de sua sinistra obsessão – e porquê não, em algum lóbulo obscuro, nos comprazer com sua liberdade cruel. Então, o interlocutor anônimo revela-se como Virgílio – sim, o da Divina Comédia -, convidando Jack à mesma tour infernal de Dante. Ao final, ambos chegam num local limítrofe, onde existe um terrível abismo de fogo e, do outro lado do mesmo, uma escada de pedras que levaria ao Paraíso. A sorte está lançada: se Jack assim o desejar, pode tentar escalar as laterais do abismo e acessar a escada celeste. Jack, o assassino em série que, não contente em tirar a vida, o fazia com os piores requintes – sim, ali era sua chance. A escalada transcorre com dificuldades, e não poderia faltar a clássica derrapada que num sobressalto nos faz acreditar que o personagem cairá – clichê que, implicitamente, já nos diz que ele se salvará ao final, visto que é um clássico recurso dramático. Mas não. Jack derrapa para o fogo eterno. E como nos sentimos? Isso mesmo: otários. Pegos no flagra, torcendo, ou ao menos esperando que um serial killer encontre a redenção de seus pecados por ter alguma habilidade com escaladas. O que pretendo sustentar aqui é a ideia de que grande parte da obra de Lars tem por estrutura a capacidade narrativa de nos conduzir a uma identificação com os traços comuns de seus personagens, a ponto de nos fazer crer que suas ações terão consequências extra-ordinárias, assim como cremos quando o filme em questão é nossa própria vida ordinária. Isso é um recurso abundante no cinema; a diferença é que Lars, ao final, diz a verdade.
Na experiência analítica cotidiana, onde podemos encontrar os rastros do que até aqui denominei por “esperança”? Ela se expressa, amiúde, sob as mais diferentes formas da demanda que colocam os representantes do Outro (família, instituições, autoridades…) como ludibriadores, inibidores ou toda sorte de adjetivo que denuncie que é este Outro que me impede de ascender a uma realização desejada. Como resultado, temos as respostas sintomáticas que se estruturam sob a forma de uma eterna esperança de que este Outro se transmute, ou até mesmo morra, para que, só assim, seja possível ser. Evidentemente que esse pensamento irrazoável não é tratável por uma via pedagógica, tendo em vista que se fundamenta na bipartição entre o sofrimento narrado pelo paciente e o gozo produzido pelo saber inconsciente que o sobredetermina – nesse sentido, pode-se dizer que a esperança tem uma íntima relação com a repetição. Em outras palavras, parece haver uma tendência na experiência humana a nos acomodar numa disposição à esperança, visto que existe uma satisfação latente no sintoma que se manifesta no discurso do sujeito como demanda ao Outro, colocado como suposto saber: alguém que me ofereça o significante que falta, e não o significante da falta.
Se a fala é o motor maior da técnica analítica, é preciso também saber pontuar essa fala, sob o risco de ela simplesmente girar em vão sob os mesmos significantes. Sem escanssões e cortes, nada se enquadra, nada entra em foco. É dessa forma que as interpelações do analista são atos que defrontam o sujeito com os limites do dizer, exaurindo-o em sua tentativa de relançar a esperança de que exista um dizer que possa englobar todo o seu ser. Se parte de nosso trabalho é abrir os veios por onde possa escorrer uma história, também não deixa de sê-lo encorajar o sujeito a criar soluções ao seu impasse que o façam passar da esperança ao ato. Não se trata de simplesmente questionar as razões pelas quais o sujeito não se retira da situação que lhe causa sofrimento, até porque a descoberta analítica é precisamente o reconhecimento de que a causa do sofrer está numa parcela da vida sob a qual a agência não tem poder, pois está justamente no lugar de efeito de uma sobredeterminação significante. Uma experiência analítica não deveria responsabilizar ninguém pelo seu destino; deveria justamente mostrar que este não existe. Recusar a noção de destino é propriamente afirmar que há algum espaço de invenção possível onde antes só havia a espera de um milagre ou uma sina escrita especialmente para mim – daí que o efeitos de dessubjetivação no decorrer de uma análise sejam descritos amiúde como uma “leveza”, na medida em que os eventos da vida podem não ser traduzidos apenas por um viés egocentrado, mas como contingências, vicissitudes.
Alguns poderiam alegar, por outro lado, que nossos tempos não são marcados por um excesso de esperança, senão por uma espécie de epidemia do niilismo. Sob o ponto de vista do que aqui chamo de esperança, isso é um equívoco. Pois, se é verdade que existe uma atrofia de nossa capacidade de imaginar e construir outras alternativas de organização social, e que esse fenômeno nos lança para próximo de um ponto de inflexão com relação à nossa sobrevivência como espécie, isso não parece animar suficientemente as forças políticas organizadas e os indivíduos na direção de uma reação contundente. Toca-se a vida como se o que está gravemente anunciado – no plano geopolítico e sócioambiental – poderia incorrer na graça de um retorno a um estado anterior de coisas ou numa espécie de homeostase caótica infindável.
Durante a pandemia, não faltaram analistas que se referiam a isso como uma manifestação de negação coletiva. Como toda condensação apressada, é preciso suspeitar da facilidade com que se recorreu ao termo “negação” para interpretar a indisposição coletiva a se engajar na avaliação racional de um determinado perigo. Não pretendo tecer uma crítica sistemática a essa interpretação, senão abordar o mesmo fenômeno por uma outra direção, a partir de algumas colocações de Lacan ao que por muitos ficou conhecida como suas menções ao “triunfo da religião”. Em uma entrevista de 19741, Lacan é muito categórico desde o início acerca das relações entre psicanálise e religião: “Não são muito amigáveis. Em suma, é uma ou a outra” (LACAN, 1974, p.9). A conjunção “ou” deixa claro que onde está a religião, não está o discurso analítico. Essa relação de exclusão poderia ser pensada sob diversos aspectos, como Lacan chegou a fazer ao empreender suas críticas ao modelo de formação do qual foi excomungado – termo que dá notícias sobre a maneira que o referido modelo estava organizado. Nessa entrevista, entretanto, a via de oposição entre psicanálise e religião é marcada no que se refere a uma relação com o sentido. Uma relação sobre a qual a religião teria uma monumental experiência em comparação com a psicanálise. Pois, se a religião é uma espécie de maquinaria que tem por função e eficácia a impregnação de sentido sobre toda a extensão da experiência humana, a psicanálise seria justamente aquilo que vem denunciar a falha contínua desse esforço.
Todavia, o surgimento do discurso analítico e sua descoberta sobre a inconsistência do sentido e seu retorno sob a forma das irrupções do Real, nunca reservou à psicanálise um lugar senão o de uma marginalidade tolerável pelo corpo social. Para usar o termo de Lacan, ela “sobrevive”, enquanto que o status da religião é o da imortalidade (LACAN, 1974). Se a religião é imortal é porque ela trata de algo que está colocado como inerente à experiência humana, a saber, a condição de que esta se funda necessariamente pela ordem simbólica. É pela experiência humana estar sobredeterminada a esta ordem que é possível afirmar a existência de um hiato entre o querer humano e sua significação. Nesse sentido, a religião vem tamponar a inconsistência do Outro, emprestando sentido à totalidade da experiência. Não à toa, ao olharmos ao redor, a afirmação de Lacan toma contornos proféticos: o avanço tecnológico que hoje coloca em xeque até mesmo a mais elementar das características humanas, coexiste com uma avalanche de movimentos que sem o menor pudor com os fatos, criam sistemas paralelos de verdade capazes de oferecer respostas que vão da geopolítica à vida após a morte. Esse trabalho permanente de fazer com que tudo tenha alguma correspondência no plano do sentido é empreendido pela religião tendo por finalidade algo muito reconhecível: “A religião, eu digo, é feita para isso, é feita para cuidar dos homens, ou seja, para que não se apercebam do que não está bem” (LACAN, 1974, p.24). Lacan, provavelmente na contramão de muitos analistas, não tem esperança na perenidade da psicanálise na história, visto que ela é sintoma do mal estar civilizacional oriundo do surgimento do discurso científico e que o traduziu sob termos absolutamente originais (LACAN, 1974). Todavia, seu lugar na cultura está sob constante cooptação por outros discursos, relegando a transmissão de sua descoberta a ocorrências genuinamente raras – quem saberá onde estão? – , por mais que a profusão de seu ensino nunca tenha sido tão pop. Uma psicanálise sobrevive porque o mal estar está sempre sendo escamoteado por inúmeros instrumentos que rodeiam o ser falante: “É nisso que Freud estava certo de falar do que ele chama sexualidade. Digamos que a sexualidade, para o falasser, é sem esperança” (LACAN, 1974, p.28). Se o significante “Psicanálise” pode ser sequestrado por todo tipo de corrupção, isso significa que a manutenção de sua novidade só se pode dar por uma recusa da esperança de que ela seja incorporada pacificamente à cultura – pois ela precisamente sempre lhe acusa o mal estar -, e pelo infindável trabalho em transmiti-la em sua subversão do sujeito: “it’s only the last song if we let it be”.
- LACAN, Jacques. Textos complementares ao Seminário 22 – RSI. São Paulo: Fórum do Campo Lacaniano São Paulo, 1974-1975/2022. ↩︎