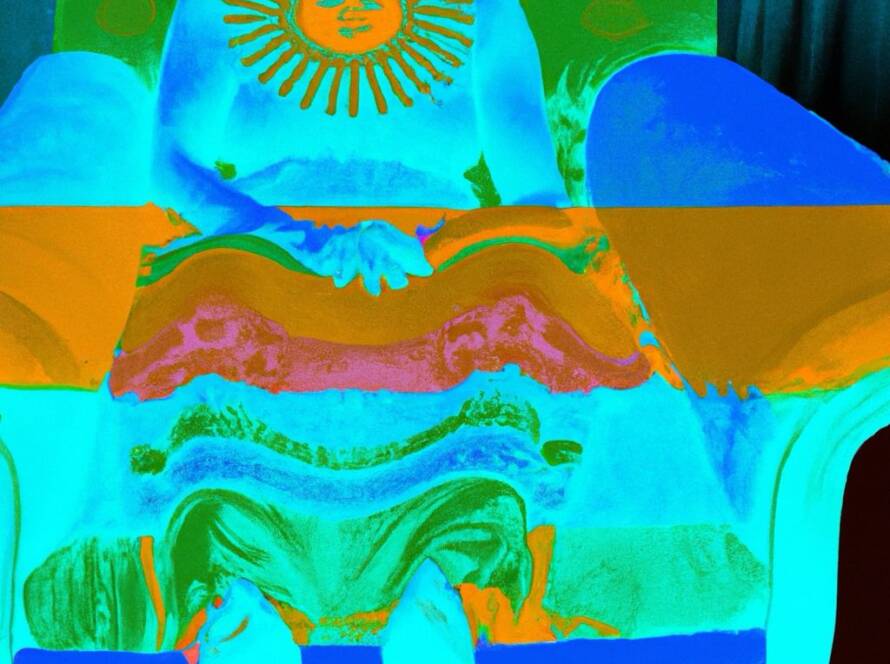“O Sentido da Vida”, escrito por Contardo Calligaris é um daqueles livros que a gente lê em uma “sentada”, porque é gostoso e se endereça, em maior ou menor grau, a todos nós. Apesar de breve, deixando o gostinho de “quero mais”, o livro toca em reflexões importantes. E sem a pretensão de fazer neste espaço uma resenha crítica da obra, pois não é o intuito desta coluna, tentarei tocar em alguns destaques que me chamaram atenção no texto.
A resposta para a pergunta “qual o sentido da vida?” é trabalhada pelo autor por meio da ideia de que “o sentido é o que fazemos dela”, considerando as dores, as perdas e o luto como parte desse percurso. Distante do ideal mercadológico de felicidade o qual alimentamos, relacionado ao poder aquisitivo e de consumo (portanto, de uma vida com recursos econômicos para adquirir objetos, viagens e experiências), Calligaris escreve sobre o perigoso terreno dessa concepção, tendo em vista que a condição “faltante” do humano sempre tentará buscar outro objeto quando conquistado o anterior. Afinal, nas tentativas de tentar tamponar aquilo que se perdeu (mas que nunca se teve), deslocamos nossos interesses metonimicamente (de objeto em objeto), havendo uma espécie de denúncia da falta que nos rege, a qual o capitalismo conhece bem, oportunizando maneiras lucrativas de lidar com esse movimento.
Nesse sentido, podemos tomar as redes sociais como ilustração do aspecto artificializado de felicidade que se confeccionou, exigindo que ela ― “a tal felicidade” ― seja exibida ao outro para garantirmos e nos certificarmos de sua natureza. Contudo, o autor destaca um elemento interessante da nossa contemporaneidade: as chamadas “selfies”. Trata-se de imortalizar o momento em que damos as costas para o evento, monumento ou obra que deveriam ser a fonte de nosso prazer. Assim, o evento em si adquire prazer justamente enquanto se olha para a câmera e para vocês, que seguram os aparelhos, fixando-se nas telas do celular. Calligaris interroga: “Será que o celular e vocês atrás da câmara são meu verdadeiro objeto de apreço e fruição?” Ou será que não se sabe mais acessar as coisas, distraído que sou e estou pela câmera e pelo suposto sorriso dos amigos das redes sociais?
Essa modalidade de registrar os eventos, na qual se vira as costas para ele, tornando-o pano de fundo, provoca o questionamento de uma ideia comum circulada atualmente, a de que viveríamos em uma modernidade hedonista. Calligaris discorda radicalmente desse entendimento e justifica as razões.
O hedonismo está atrelado a um projeto de atenção e de dedicação ao mundo, exatamente ― ele escreve ― “como o projeto de contemplar e apreciar uma obra de arte é um projeto de dedicação e de atenção à obra”. Por isso, seria delirante nomear a modernidade como hedonista ao venerar os prazeres imediatos, como se hedonista fosse quem tem pressa de gozar e curtir.
Somos uma sociedade muito pouco hedonista e distraídos demais para ter esse rótulo, uma vez que o hedonismo, assim como qualquer apreciação estética, exige uma extrema atenção ao mundo e ninguém é hedonista com um celular na mão.
Os registros e selfies que publicamos, publicizamos e ― às vezes ― monetizamos, impulsionando. Isso nos coloca frente à questão de que a captura da imagem que será vendida sob a ideia de felicidade precisa ser vista, curtida e compartilhada pelo outro, o qual precisa dar “likes”. É na certificação que o outro confere à cena que retroalimentamos uma perspectiva ideal do que é ser feliz com tudo aquilo que seu aparato envolve, nutrindo os mecanismos econômicos que sabem vender muito bem essa marca.
Mas, antes de concluir a escrita deste texto, preciso tocar em outro ponto que chama a atenção no livro: o fato de Calligaris conversar com o leitor sobre a estética e a vida. Essa conversa é encabeçada pelo autor a partir da resposta dada pelo seu pai, quando o autor o questiona sobre as razões que o levaram a participar do movimento antifascista, quando ele não era comunista ou de esquerda. A resposta foi: “é porque os fascistas eram muito vulgares”.
A resposta ecoou por anos com o autor ― que, diga-se de passagem, revoltou-se incialmente com a resposta dada. Ele, tempos depois, refletiu sobre a dimensão estética da resposta e sua relação com a vida. Utilizamos a estética como recurso para dizer o que é bom ou ruim, certo ou errado, como medida moral; não é à toa que recorremos à expressão “o que você fez é muito feio” para educar as crianças ou reportar algo que alguém fez de errado, conforme nossos valores.
O juízo estético, mais do que uma doutrina ou utopia social, é capaz de fundar uma linha de conduta. Logo, esse juízo não avaliava só a arte ou a natureza, mas se tratava de uma atitude geral diante da vida, uma decisão de viver belamente. Podemos, com essa noção, pensar a vida como uma obra de arte, a qual vamos produzindo na medida em que ela está acontecendo. Logo, não há um sentido previamente dado ou um manual pronto de como “se fazer”. O sentido da vida torna-se a própria vida em si, com tudo aquilo que ela implica.